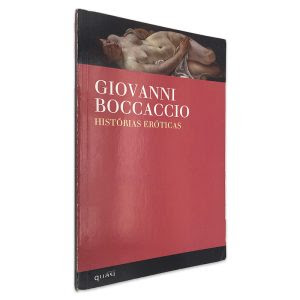HÁ SEMPRE UM LIVRO...à nossa espera!
Blog sobre todos os livros que eu conseguir ler! Aqui, podem procurar um livro, ler a minha opinião ou, se quiserem, deixar apenas a vossa opinião sobre algum destes livros que já tenham lido. Podem, simplesmente, sugerir um livro para que eu o leia! Fico à espera das V. sugestões e comentários! Agradeço a V. estimada visita. Boas leituras!
About Me
- Name: Claudia Sousa Dias
- Location: Norte, Portugal
Bibliomaníaca e melómana. O resto terão de descobrir por vocês!
Tuesday, November 18, 2025
Estas ‘Memórias’ são, na verdade, contos de ficção, revestidos de uma componente diarística ou memorialista no aspecto narratológico. Nesta tríade, apenas o britânico Somerset Maugham não foi vencedor do Prémio Nobel estando, todavia, perfeitamente ao nível dos outros dois colegas escritores, oriundos dos EUA (W. Faulkner) e França (A. France). Todos eles propõem, nas suas narrativas, uma reflexão sobre vários aspectos que envolvem a condição humana: o ego, em interacção com as relações familiares e de vizinhança, ou então as alterações estruturais na sociedade e ainda a evolução das questões éticas prevalecentes num dado meio social.
I
Putois
O primeiro conto, “Putois”, do crítico literário e jornalista Anatole France - (Paris, 1844-1924) -, consiste na demonstração - através da descrição detalhada de um caso concreto e recorrendo às memórias de infância de dois irmãos (dois pontos de vista complementares, portanto) -, de como uma aparentemente inocente mentirinha - construída pela mãe de ambos, a fim de fugir a uma situação desagradável ou, no mínimo, inconveniente e preservar assim a tranquilidade no meio familiar -, acaba por assumir proporções inimagináveis e envenenar uma comunidade inteira para, no final, atingir a própria autora do embuste.
‘Putois’ acaba também por ser uma crítica a uma sociedade pseudo-moralista - norteada por aquilo que Sigmund Freud classifica de super-ego, onde cada qual gere a própria conduta por parâmetros irreais e de forma maniqueísta, assente num primarismo que sempre procura um bode expiatório para lidar com os próprios erros. Mas há variações de gravidade no problema: note-se, por exemplo, o contraste entre o egoísmo, narcisista em extremo e imbuído de soberba, de Madame Cournouiller, com a simples necessidade de alívio da sobrinha, inventora da mentira. Nisto reside, também, o móbil principal desta última na criação do embuste como estratégia de fuga a fim de salvar, não só a própria face, mas também como a dos restantes membros da família nuclear. Vamos então dar uma olhadela com mais detalhe às personagens e respectivas atitudes.
Análise das personagens: Dois irmãos recordam uma infância emocionante, em primeira mão, através de autodiegese:
1. Monsieur Lucien Bergeret: o narrador principal evoca os acontecimentos ocorridos na infância, tendo como cenário a cidade de Saint-Omer, em diálogo com a irmã solteira, Mademoiselle Zoe (Bergeret)
2. Mademoiselle Zoe: forma o dueto ou uma díade com o irmão, na reconstrução de memórias acrescentando detalhes, cor, tonalidade e relevo, enquanto faz o seu bordado.
O quadro geral dos acontecimentos é, assim, obtido sob a forma de uma memória partilhada, reconstituída por ambos. Por exemplo, o retrato físico de Putois é recordado como sendo um homem perfeitamente comum, mas totalmente desprovido de carisma ou qualidades que levem as pessoas a apreciá-lo. O objectivo é, pois, desenhá-lo de forma a não ser olhado como simpático ou cativante. Todos estes traços físicos e de personalidade são, logo nas primeiras páginas, concatenados pelos dois irmãos, segundo aquilo que ouviram de várias fontes: “voz arrastada”, “tom untuoso”, “estrábico”, “furtivo”, “sem expressão”, “as mãos falavam por ele”, “loiro, de barba rala”.
Os adjuvantes à tarefa:
Em primeiro lugar, Pauline, a filha de Lucien, a qual intervém e estimula ainda mais o desenvolvimento da narrativa, vertida sob a forma de depoimento. Ao inquirir os dois seniores, a fim de saber ainda mais detalhes sobre a infância do pai e da tia, acaba por estimular os seus interlocutores a evocar as vozes e o ethos dos avós: o Avô Eloi - que esteve no centro do vórtice dos acontecimentos - como típico homem racionalista, agnóstico, produto do Iluminismo. Este avô ajudara a esposa a construir, na altura em que se desenrolaram os acontecimentos, ‘a anatomia de Putois’ com base na literatura clássica, isto é, em inter-textualidade com a prosa de um dos volumes de Rabelais e, simultaneamente, em contraste com a dramaturgia de Shakespeare, criando um homem vulgar, sem qualquer vestígio de heroicidade dos protagonistas dos dramas do autor inglês.
«O teu avô, minha filha, Eloi Bergeret, que não se entretinha com bagatelas, atribui a esta passagem grande valor, principalmente tendo em conta a sua origem. Deu-lhe o título de “A anatomia de Putois”. E costumava dizer que, em certos casos, colocava a anatomia de Putois acima da anatomia de Queresmeprenant. “Se a descrição escrita por Zenomanes”, disse ele, “é mais erudita e rica em termos preciosos, a descrição de Putois supera-a largamente em relação à lucidez de ideias e à claridade do estilo”. Era esta a sua opinião, pois naqueles dias o doutor Ledouble de Tours, não tinha ainda comentado os capítulos trinta, trinta e um e trinta e dois do quarto livro de Rabelais.»
Objectos que situam a acção no tempo
Um elemento fundamental e útil no texto de France é a presença de objectos datados, caídos em desuso, logo após as primeiras décadas do século XX, o que ajuda também a posteridade a reconstruir a época em que decorre a acção: por exemplo, um tinteiro, uma pena, o lacre para usar na escrita situam os acontecimentos na época de transição do século XIX para o século XX.
A relação entre estilos de personalidade no desencadear da efabulação
No outro extremo do mesmo contínuo, a abranger todo um espectro de capacidade e intenção efabulatória, temos Madame Cournouiller, a Tia de Madame Bergeret e detentora de um carácter e temperamento de tal forma inflexíveis que motivaram toda a construção de uma realidade paralela pela sobrinha. Mas já veremos as diferenças de personalidade entre uma e outra. Segundoa Mãe de Lucien e Zoe, Madame Cournouiller era vista pela família como uma tia idosa, solteirona e solitária. A Mãe, evocada pelos dois irmãos, dá-nos a nós leitores uma Madame Cournouiller detentora de uma personalidade dominadora e moralizante, farisaica. Segundo ela, a Tia habitava uma mansão designada por Monplaisir, cujo nome só por si ilustra a forma como a casa seria o espelho onde se projectava o carácter da dona - a tia-avó, portanto, de Lucien e Zoe, por via materna. Madame Cournouiller é retratada como uma mulher extremamente manipuladora e dominadora que não hesita em usar de chantagem emocional para congregar pessoas à sua volta. Sofre, também, de uma falta crónica de empatia com toda a gente, enquanto a sobrinha se apresenta, por seu turno, como uma personalidade evitante e, simultaneamente, alguém cujas atitudes no dia-a-dia são orientadas para evitar, contornar, aplacar conflitos. Trata-se de duas figuras femininas opostas em termos de atenção para com o Outro. Madame Bergeret chega mesmo a inventar histórias rocambolescas para dissolver tensões, como se vê no parágrafo abaixo contendo descrição de Lucien, a referir-se ao ambiente em casa e à disposição geral face aos jantares na companhia de Madame Cournouiller:
«O meu pai era muito infeliz; até dava para vê-lo nessas alturas. Mas Madame Cournouiller não reparava nisso. Aliás, ela não reparava em nada. A mãe aguentava melhor. Sofria tanto como o pai, talvez mais, mas continuava a sorrir.» (pg.7).
A acção principal começa com a necessidade de a mãe inventar pretextos para se furtar àquela obrigação: “Felizmente a Zoé está com tosse convulsa, por isso não devemos ter de ir a Monplaisir durante muito tempo”, (pg.8).
A existência metafísica de Putois, por ela imaginada e construída, acaba rapidamente por transformar-se depois, numa lenda e património imaterial da comunidade: passa a ser disseminada pela própria Madame Cournouiller que decide usar o fictício Putois inventado pela sobrinha como bode expiatório para o facto de a família não a visitar. Este acabará, mediante a acção do tempo, por adquirir uma existência real, ainda que fictícia, e condicionar a vida dos intervenientes na história - estes, para não se contradizerem, passam a comportar-se como se Putois existisse fisicamente, e não fosse construído a partir do imaginário de Madame Bergeret. Todos os membros da família colaboram agora na construção desta realidade paralela e integrar o putativo Putois no seu quotidiano como se, dia após dia, fossem escrevendo um romance de folhetim ou imaginassem uma figura numa peça de teatro.
« Em todos os tempos em em todas as terras, seres que não eram mais reais que Putois inspiraram nações com amor e ódio, terror e esperança: aconselharam crimes, receberam oferendas, criaram leis e costumes. (...) Putois é uma personagem mítica; obscura, é certo, e das mais humildes. O rude satírico, que se costumava sentar à mesa com os camponeses do norte, era digno de figurar num dos quadros de Jordaens e numa fábula de La Fontaine. O filho peludo de Sycorax introduziu-se no mundo sublime de Shakespeare. Putois, menos afortunado, será sempre desprezado pelos poetas e pelos artistas. Falta-lhe a grandeza e o mistério: não possui distinção nem carácter. É fruto de uma mente demasiado racional. Foi criado por pessoas que sabiam ler e escrever, mas às quais faltava a imaginação encantadora que cria as fábulas.» (pg. 11).
O conto de France é, assim, um fresco que contém em si uma forte crítica em jeito de sátira, aos preconceitos sociais da classe burguesa com o objectivo claro de expor o impulso desta em explorar o trabalho, pagando indignamente qualquer serviço prestado, como a dada altura tenta fazer Madame Cournouiller, com o fictício Putois.
« Ele era de certa forma malvado (...) mas não era o mal absoluto. Era como aqueles diabos que se dizem ser muito maléficos, mas nos quais se descobrem boas qualidades. Estou tentado a pensar que a justiça não foi feita em relação a Putois. Madame Cournouiller foi preconceituosa para com ele; suspeitou desde logo que era um mandrião, um bêbado, um ladrão. Então, tendo em conta que Putois tinha sido contratado pela minha mãe e que esta não lhe poderia pagar muito bem, pois não era rica, achou que seria mais vantajoso contratar Putois como seu jardineiro e mandar embora o que já tinha, pois, apesar de ter melhor reputação, infelizmente também levava mais caro. Estava a chegar a altura de podar os teixos. Madame Cournouiller pensou que, se Madame Eloi Bergeret, que era pobre, pagava pouco a Putois, ela, que era rica, podia pagar ainda menos, já que era costume os ricos pagarem menos que os pobres.», (pg.13).
Putois torna-se, a partir daqui, e pela difusão do seu carácter evanescente, de forma activa e entusiasta por Madame Cournouiller, num homem cujo ethos se caracteriza por ser sem carácter e incapaz de honrar um compromisso. Empenha-se pois em divulgar amplamente esta reputação desfavorável de um homem que não conhece pela comunidade. Putois torna-se assim numa lenda e passa a figurar no folclore de Saint-Omer: “Toda a gente em Saint-Omer acredita na existência de Putois”. Tal como na existência de deus ou de qualquer divindade. Putois passa, pois, a figurar no sistema de crenças local. Todas as faltas, delitos ou crimes, inclusive delitos sexuais e gravidezes inconvenientes passam a ser atribuídas a Putois. Esta existência imaterial acaba, no entanto, um dia por tomar corpo físico, ao ponto de envolver a autora do embuste na própria mentira que criara.
Conclusão
A figura de Putois passa a age, no conto de France, como elemento estimulante da criatividade e imaginação de cada um: cada membro da comunidade cria o seu próprio Putois sob medida, segundo a projecção das facetas mais obscuras do próprio eu. Por todas estas razões, esta história de Anatole France apresenta-se como um jogo de espelhos, onde cada um reflecte para os outros a sua própria ideia de vilão: aquele que carrega dentro de si ou do próprio imaginário, o lugar onde navegam as pulsões mais obscuras. Daqui resultarão, pois, múltiplos Putois recriados à medida dos múltiplos imaginários cognitivos singulares. Exactamente como qualquer figura literária que encontramos num livro e que reconstruimos na nossa própria mente.
Consigo encontrar afinidades na temática deste conto com o romancista Albert Camus, em romances como ‘A Peste’ e ‘O Estrangeiro’ que iremos analisar oportunamente neste blogue. Na verdade Anatole France é, por motivos óbvios um precursor, tanto de Camus como de Saramago no que respeita ao tratamento de comportamentos indicadores de males sociais. No caso do texto que aqui tratamos, da tendência para a humanidade em projectar na pessoa daquele em quem se conhece mal ou não se conhece de todo, o pior que temos em nós mesmos.
II
“Aquele Sol Poente” de William Faulkner
O autor deste segundo conto, além de receber o Nobel, em 1942, obteve também, por duas vezes, o Prémio Pulitzer: em 1954, com “Uma Fábula” e, em 1962, com “Os Desgarrados”. Mas o cenário deste conto de William Cuthbert Faulkner (1897-1962), situa-se na transição do século XIX para o início do século XX, na 2ª vaga da Revolução Industrial, e vai de encontro àquele que descrito na mini-nota biográfica do autor, para nesta edição:
«Na decadência do sul agrário, assombrado pelas clivagens sociais e raciais, pela derrota na Guerra Civil e retrocedendo face a um Norte industrializado e triunfante, encontra-se um pano de fundo que fundamenta as suas histórias dramáticas, contadas através dos monólogos interiores das personagens, o chamado fluxo da consciência».
Pois é esta a atmosfera que predomina no conto Faulkneriano de que aqui hoje falamos. Neste caso, aparece aqui, também, a cidade de Jefferson como pano de fundo à história. A narrativa começa com a justaposição de duas épocas, com um salto temporal, criando um efeito constrastivo, a fim de mostrar a forma como o tempo transformou fisicamente o aspecto da cidade e como mudou radicalmente o quotidiano das pessoas que nela habitam: o “ontem” e o “hoje”, tendo como tempo “presente” as primeiras décadas do século XX, para depois fazer uma regressão temporal, transportando a cidade de volta ao final do século anterior. Jefferson é, então, uma cidade que ainda tem presente na memória a Guerra Civil Americana, vivida poucas gerações antes, como se vê no excerto seguinte, pela oposição entre o “agora” e o “antes”:
I
«Agora em Jefferson a segunda-feira não é diferente de qualquer outro dia da semana. As ruas estão agora asfaltadas e as companhias de telefone e electricidade cada vez cortam mais árvores que dão sombra - carvalhos, plátanos, alfarrobeiras e ulmeiro - para arranjar espaço para postes de ferro encimados por cachos de infladas e fantasmagóricas uvas sem sumo e temos uma lavandaria que faz a recolha à segunda-feira de manhã, transportando as trouxas de roupa em carros de cores alegres, mandados fazer para o efeito: a roupa suja de uma semana inteira desaparece agora, qual assombração, atrás de pressurosas e irritantes buzinas eléctricas, com um longo ruído decrescente de borracha e asfalto, como seda a rasgar, e até já as negras que ainda lavam a roupa para os brancos à maneira antiga a vão buscar e levar de automóvel».
Luís Vaz de Camões diria “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”. Mas na transição de um século para outro há coisas que não mudaram, como a estratificação racial naquela sociedade, por exemplo. Mmas a forma de execução e organização do trabalho, modificam-se por via da tecnologia. A evolução tecnológica, o aparecimento do automóvel, o telefone e a industrialização trouxeram mudanças radicais nas populações no início do século XX, mesmo nesta Jefferson, cidade que, no século XIX vivia ainda de mão-de-obra escrava. A mesma evolução tecnológica liga-se, como vimos, à guerra e à mudança da estrutura social influenciando, por sua vez, a transformação da estrutura social do trabalho. Na altura em que o narrador está a descrever os acontecimentos da história, a escravatura já não existe em Jefferson, mas os negros ainda são tratados como sub-humanos. Sobretudo mulheres como Nancy, a protagonista, de cujo trabalho e corpo os homens, mesmo os negros (como o marido dela) se servem como se de um objecto ou máquina se tratasse. A temática principal do conto é a violência contra as mulheres de condição mais humilde, negras sobretudo, e a viver em situação limite. É nesta categoria que se encontra representada a figura de Nancy como empregada doméstica numa casa de classe média, mas casada com um marido que lhe bate e que ninguém sabe já onde se encontra. Nancy é tratada com respeito e empatia pelo patrão da casa onde trabalha e os filhos deste tratam-na com afecto. Mas tanto a mulher de Mr. Jason como outros membros da comunidade olham para Nancy com desprezo, já que esta afoga as mágoas no alcoolismo e suspeita-se que, por vezes, recorre à prostituição para complementar o salário. Uma das cenas mais chocantes do conto é quando Nancy tenta expor Mr Stove em público, envergonhando-o por este nunca lhe pagar os seus serviços e acaba por ser brutalmente espancada à vista de todos:
«Nós pensávamos que era whisky, até ao dia em que eles a prenderam outra vez e, quando estavam a levá-la para a cadeia, passaram pelo Mr. Stovall, que era caixa de banco e diácono da Igreja Baptista e Nancy começou a dizer:
• Quando é que me vai pagá, homem branco? (...) - Mr. Stovall atirou-a ao chão, mas ela não parava de dizer (...) - até que Mr. Stovall lhe deu uma patada na boca com o tacão e o xerife deixou Mr. Stovall para trás e Nancy, ali caída no meio da rua, a rir. Virou a cabeça para o lado, cuspiu sangue e dentes e depois disse (...)
Foi assim que ela ficou sem dentes (...) e durante toda aquela noite os que passavam na cadeia podiam ouvir a Nancy a cantar e a gritar.» [pp. 27-28].
E mais à frente: “Não passo de uma preta”. Já na cadeia, Nancy continua a ser alvo de atitudes o preconceito racial sendo é humilhada, também, pelos próprios guardas prisionais:
«O carcereiro soltou-a e reanimou-a e depois bateu-lhe e chicoteou-a. Ela tinha-se enforcado com o vestido. Tinha-o prendido bem, sem dúvida, mas quando a levaram para a prisão não lavava nada em cima excepto o vestido e, por isso, não tinha nada com que amarrar as mãos e não era capaz de as soltar do parapeito da janela. Por isso, o carcereiro ouviu barulho e correu lá acima e encontrou a Nancy pendurada na janela, toda nua. » [pp. 28-29].
A temática das desigualdades sociais e sobretudo do racismo, fortemente impregnado no Sul dos Estados Unidos, os outrora estados Confederados, que saíram derrotados da Guerra Civil e que outrora dependiam de uma economia esclavagista em que a classe dominante via a população negra como uma população de sub-humanos estão descritos no conto com precisão gráfica, como acabámos de ver nos excertos anteriores. O anti-herói, marido de Nancy, ironicamente chamado de Jesus, e igualmente invisível, pois nunca aparece na efectivamente na história, é retratado por tida a comunidade, branca ou negra, como um monstro, o oposto de um salvador. A lembrança da sua pessoa aterroriza a todos os intervenientes no conto, devido à sua reputação de homem violento, mesmo sem aparecer efectivamente.
Quentin, o narrador, o filho mais velho do dono da casa, retrata-o como alguém que é temido por todos, por ser alguém extremamente agressivo, descontrolado e vingativo. E, no entanto, a sua violência não é muito diferente da de Mr. Stovall, quando o seu carácter é publicamente exposto por Nancy.
O Autor faz Quentin assumir uma posição destacada, periférica, em relação às outras personagens com as quais contracena a fim de realçar, o ponto de vista destas últimas, sobretudo o de Nancy, dos irmãos e da própria mãe. Por seu lado, Quentin, tal como os irmãos mais novos, vê no Pai a voz de autoridade e o protector máximo do clã, visão que também é partilhada pelos irmãos, como veremos. A autoridade do Pai é ali respeitada não por ser uma figura autoritária ou que impõe o medo, mas por ser revestida de humanismo e bom-senso. A Mãe das crianças, dona da casa onde Nancy trabalha, todavia, é retratada como alguém sem poder, sem capacidade de decisão ou acção, mas sobretudo sem empatia. A percepção desta característica da dona da casa encontra-se patente, no discurso do narrador de forma indirecta, onde transparece um sentimento de compaixão das crianças não pela Mãe, mas por Nancy - sentimento esse que é, também, partilhado pelo Pai. Todos em casa - excepto a Mãe - tentam proteger Nancy, descurando até, por vezes, o próprio conforto e segurança. A tarefa é, porém, dificultada pelos ciúmes doentios da dona da casa, que entra num jogo de poder para não ver a atenção dos que a rodeiam ser dividida com outra mulher, por não tolerar tanta preocupação e cuidado “por causa de uma preta”. Há quem pense ainda que a dona da casa receie que o marido se encante pelo corpo da empregada e seja tentado a fazer com aquela mulher destruída aquilo que ela própria não faz com o marido [pg.32].
No final da primeira parte, assistimos a uma cacofonia de vozes a ocorrer em simultâneo, formando uma espécie de coro entre o discurso das crianças mais novas a decorrer paralelamente ao diálogo entre Jason Pai e Nancy. Os dois filhos mais novos, Jason e Caddy brigam entre si, sem perceberem totalmente o teor da conversa entre os dois adultos. Entretanto, tudo é registado na memória do filho mais velho que se mantém calado enquanto observa e escuta tudo o que se passa à sua volta.
Nesta primeira parte, o caso de Nancy representa o paradigma do trabalho feminino e doméstico que é desvalorizado e continua a ser executado em condições quase desumanas, mesmo com a abolição da escravatura. O transporte da roupa para ser lavada no rio, por exemplo, é ainda feito numa trouxa colocada à cabeça, a qual tem de se equilibrar enfrentando inúmeros obstáculos até chegar à margem [pg.32].
Para cúmulo, Nancy sofre em simultâneo com o duplo aguilhão do racismo por parte da sociedade, - salvo honrosas excepções como o caso de Jason Pai -, e da misoginia e prepotência que a levam a viver em terror constante e estado de hiper-vigilância a fim de evitar qualquer visita do marido. Para evitar este medo, o álcool torna-se o seu único refúgio e anestésico face ao terror iminente de ser maltratada, espancada e violada pelo marido alcoólico que se encontra ausente.
No extremo oposto está o patrão que a leva e traz a casa, de forma a desencorajar uma potencial abordagem do ex-marido, que nunca se sabe quando poderá chegar. Temos aqui, também, duas castas de mulheres que se situam também em pólos opostos no tocante à protecção social. À vulnerabilidade de Nancy opõe-se a intocabilidade da Mãe das crianças para quem cozinha, a esposa de Jason. Nesta última, o desejo de ser o monopólio e centro das atenções do marido fá-la atirar tanto a empregada como as crianças para uma situação de perigo real. Nancy está agora numa situação muito próxima à de Mrs Lovelady, que se suicidara para fugir à tirania do marido.
A história continuará, pois, a desenrolar-se dentro de um estilo híbrido, entre a narrativa e o drama, em seis momentos diferentes.
II
Mas se o primeiro acto desta narrativa ouconto longo dá a panorâmica geral da cidade, opondo dois quadros da mesma, em dois momentos diferentes no tempo, além de estabelecer a relação entre as personagens principais e assim definir o teor da narrativa, o segundo momento desta história mostra como se processa essa mesma dinâmica do desenvolvimento da trama.
Aqui, realça-se a situação excepcional de a cozinheira estar doente e Nancy vir substituí-la. O Pai das crianças toma a iniciativa de proteger a empregada externa, pelo menos temporariamente, debaixo do seu tecto, com o imbatível argumento de precisar de alguém que cozinhe em casa e trate das crianças. A Mãe das crianças irá exercer, no entanto, aqui um papel de antagonista, motivada por um ciúme doentio, com laivos de paranóia, uma vez que não suporta ter outra mulher em casa a dormir debaixo do mesmo tecto (a não ser que seja idosa) e muito menos sob a protecção do marido E muito menos que este a acompanhe a casa ao cair do sol, mesmo que haja a possibilidade real de esta incorrer em risco de vida:
«- Quanto tempo mais isto vai durar? Eu, a ser deixada sozinha neste casarão, enquanto tu vais levar uma negra medrosa a casa?», [pg. 34].
A cena termina com o lamento de Nancy, a descrever a sua condição de negra, que pela fatalidade de nascer com aquela cor de pele, vê-lhe constantemente serem-lhe negados direitos fundamentais como o direito à segurança ou integridade física, dirigindo-se aos filhos dos donos da casa, em particular ao filho mais novo:
«- Eu nasci no Inferno, menino - disse Nancy -. Não tarda, não serei nada. Não tarda, vou voltá pra donde vim.», [pg,37].
III
A cena III é o turning point da história, onde se descreve o estado de espírito dominante - o terror - por parte de Nancy face a um possível um ataque de violência extrema do marido, que a remete para um estado de hipervigilância permanente e com laivos de paranóia. É esta a atmosfera que irá dominar toda a cena e esbarrar cumulativamente no narcisismo racista da dona da casa, fazendo a tensão subir a níveis quase intoleráveis.
O argumento da mãe acaba por vencer - claro - e Nancy tem de ir dormir a casa. Mas a empregada, tolhida pelo medo, consegue convencer as crianças a ir com ela e passar a noite na sua modesta habitação, a fim de servir de escudos humanos contra o próprio marido, à revelia dos patrões.
O que temos aqui é, na ralidade um trauma de Nancy gerado porum quadro complexo de stress pós-traumático, que lhe amplia a sensação de insegurança, apesar da realidade indicar que o marido estará longe e, provavelmente, preso. É, no entanto, a incerteza que lhe desencadeia uma série de mecanismos de defesa exagerados e a deficiente avaliação do quadro da realidade efectiva que a leva a tomar precauções excessivas, prejudicando-lhe a execução do trabalho e a colocar as crianças em situação de desconforto, incentivando-as a desobedecerem aos pais e a esconder-lhes o plano de passar a noite fora. É por causa do mesmo medo irracional que Nancy vai falando em alta-voz pelo caminho, dirigindo-se ao filho mais novo, Jason, chamando-lhe Mr. Jason, como se estivesse a falar com o pai das crianças.
O interior da casa de Nancy reflecte, também, o estado de espírito da mulher que nela habita, com um ambiente recheado de tensão: uma casa que está, também ela, oprimida pelo medo, onde impera o caos e a desordem. Persiste ali uma atmosfera pesada, a qual acaba também por contagiar as crianças, que se apercebem de algo negativo, mas que não conseguem identificar.
Nancy decide então acalmá-las e propõe-se contar-lhes uma história: a história dela. Mas como se ela fosse Outra. A cena termina num momento de suspensão, exactamente quando Nancy inicia o seu relato.
IV
Na cena IV, há uma outra viragem no desenvolvimento: uma mudança no ponto de vista das crianças. Estas começam a sentir-se desconfortáveis em casa de Nancy. Não estão em sua casa. E entediadas, também. E depois inquietas, quando vêem Nancy queimar-se numa candeia, mas a continuar a agir como se nada fosse, percebendo que ela não está bem.
Subitamente, ouvem alguém aproximar-se. Mas ao contrário de Nancy, permanecem lúcidas: estão convictas de que é o pai que finalmente vem buscá-las.
As crianças revoltam-se com Nancy porque acabaram por não se divertir e depois de lá estarem não podiam voltar sozinhas para casa, permanecendo ali por várias horas contra-vontade. Nancy ficara mergulhada no seu mundo de terror e os jovens percebem que ali não é o lugar onde têm o seu mundo e as suas coisas, o seu conforto. Daí sentirem-se deslocadas e mesmo temporariamente desenraizadas. Mas essa é a condição permanente de Nancy, que eles experienciam por um curtíssimo espaço de tempo e que o narrador fixou na memória apesar do apagamento enunciativo durante a maior parte da narrativa no que respeita ao seu próprio ponto de vista.
V
A entrada do Pai em casa de Nancy provoca reacções inusitadas. A sua autoridade em relação aos filhos é expressa somente no olhar que lhes lança ao atravessar o limiar da porta. Basta-lhe aquele único olhar que lhes dirige, sem proferir palavra, mas exigindo explicações. Acto contínuo, as crianças começam a acusar-se mutuamente.
Só então o Pai fala com Nancy. Aconselha-a a ir para casa de uma parente que vive ali perto. O medo de Nancy fizera com que sentisse que precisava da protecção de alguém branco. Como se o vínculo a uma casta dominante a protegesse da violência - negra ou não - e da miséria. Como no tempo da escravatura. Quando Jason Pai e as crianças saem a sua mente mergulha nas sombras e sente que a vida daí se moverá sempre em terreno instável. A sensação predominante é a da incerteza e anomia.
VI
Já fora da casa de Nancy, a família ruma à casa grande, após deixarem a empregada em casa dela. No caminho, ouvem o lamento da mulher só, a esconjurar o medo, enquanto rumam a casa ao cair da noite.
Conclusão:
Há uma época aqui que morre, ou está em rápida decadência, representada pelo sol poente mencionado no título. Outra época virá, diferente, mas o mundo ainda está em transformação. Este conto une-se tematicamente ao de outra escritora que escreveu sobre o tema das questões raciais na primeira metade do século vinte: Harper Lee, autora de ‘Não Matem a Cotovia’ (‘To Kill a Mockingbird’, no original.
III
"A Cigarra e a Formiga"
O último conto desta mini-antologia de bolso é do britânico Somerset Maugham e intitula-se “A Cigarra e a Formiga”. Trata-se de uma reinvenção ou melhor, uma inversão, como veremos, da fábula de Aesopo na Antiguidade que já havia sido recuperada por LaFontaine no século XVII. Nesta versão recriada por Maugham, quem é, no final, recompensada é a personagem que representa a cigarra, Tom Ramsey, um homem carismático, encantador e oportunista, mas a quem a sorte acaba por sorrir.
Por outro lado, a formiga, que é representada pelo irmão trabalhador, diligente, responsável e poupado, George Ramsey, não é bem tratada nem recompensada no final. É verdade que George é um homem trabalhador e cumpridor mas o seu carácter trará a lume uma faceta inesperada no final: o despeito. George é alguém que se julga merecedor de recompensa divina por ter sempre levado a vida com sacrifício e trabalho - uma visão do mundo tipicamente calvinista. É um homem com mérito e que é recompensado por isso, mas acha que não é suficiente. Para ele, pessoas imprudentes como o irmão não deveriam nunca ser favorecidas pela sorte: pelo contrário, deveriam sofrer uma punição exemplar por uma divindade nemésica qualquer, a fim de repor as coisas no seu devido lugar. Mas quando isso não acontece, George sente-se injustiçado.
Outra voz importante aqui é a do narrador participante, que conhece e interage com as duas principais personagens conflituantes. No início do conto, ele alude precisamente à fábula original, afirmando que nunca apreciu o final da mesma pela frieza e indiferença da formiga face à miséria da cigarra. Esta disposição inicial do narrador é que será o motivo principal pelo qual decide narrar a história. A abertura mental desta voz narrativa, assim como a ausência de julgamento e aceitação completa da diferença de ambas as personagens, sem querer mudá-las, dota-a em si mesma de qualidades extraordinárias. Os irmãos Ramsey personificam, ambos, dois tipos diferentes de narcisismo: Tom é o narcisista grandioso, exibicionista, com pouco respeito pelas normas sociais, e sempre pronto a ‘cravar’ os amigos ou mesmo a defraudá-los, sem deixar-se envolver demasiado pelo seu charme carismático; George é, pelo contrário, o narcisista encoberto, moralista, que se julga mais puro, mais impoluto que qualquer outro, um ‘homem de bem’ e que, por isso mesmo, deve ser recompensado pela divina providência. Socialmente, George é muito bem visto, mas o narrador, no trato íntimo com os irmãos, apercebe-se das falhas de um e de outro. Com Tom, passa a ter algum cuidado em não se deixar levar e nunca lhe emprestar, jamais, “mais do que uma libra em ouro” (e quando falamos aqui de uma libra em ouro, não estamos a falar da unidade monetária actual do Reino Unido, mas sim de uma unidade de peso em ouro, isto é, cerca de 453 gramas, ou seja, uma volume de dinheiro considerável), pelo que se conclui daqui que o mesmo narrador será de facto alguém extremamente rico para emprestar o equivalente a 453 gramas de ouro a um amigo para este esbanjar na roleta ou no que quer que seja.
Conclusão:
No último parágrafo, percebemos de forma clara como a empatia do narrador cai para o lado do narcisista grandioso, ao invés do moralista. Há uma maior identificação do narrador milionário com primeiro - muito mais facilmente identificável e, por isso, provavelmente, menos perigoso - do que com o segundo. Mas um e outro são assaz tóxicos, apesar de exprimirem, de forma completamente distinta, a sua toxicidade.
Em suma, nesta antologia são reunidos três autores e em três histórias distintas que tratam, sob diferentes perspectivas, a forma como se manifestam os diversos estilos de personalidade narcisista e em distintos contextos sociais. Para mais, situam-se, todos três, na viragem do século XIX ou mesmo já dentro da primeira metade do século XX (quando ainda não estavam identificados pela Psicologia as variações deste tipo de transtorno de personalidade), época em que ainda não se falava propriamente destas questões a nível científico, mas que já apaixonavam aqueles que se dedicavam a escrever Literatura e a abordar, com extraordinária acuidade, as questões do comportamento e da condição humana.
Claudia de Sousa Dias
Vila Nova de Famalicão, 18 de Novembro de 2025
Sunday, June 01, 2025
‘Esta casa é para Vender’ de Diogo Ferreira (Edição de Autor)
Estamos perante a estreia literária de um autor que, apenas começando a dar os primeiros passos na publicação literária, domina já e com grande à-vontade a técnica narrativa, ainda que se verifique alguma margem para aperfeiçoamento.
Em entrevista a ‘O Ilhavense on-line’ (23.10.2023), Diogo Ferreira revela sempre ter apreciado o género terror, com especial preferência por autores de sagas como Halloween de Michael Myers e Hellraiser, uma série de filmes de horror, criada a partir do conto ‘The Hellbound Heart’ (1986) escrito por Clive Barker. Porém quando se trata de escrever, Diogo Ferreira opta antes pela ficção curta - conto - como género preferencial. Os seus autores de contos, dentro do gótico-fantástico vão, naturalmente para clássicos como Edgar Allan Poe e Franz Kafka, mas também para os contos vampíricos de Alexei Tólstoi.
Na trama de cariz psicológico de Esta casa é para vender, Diogo Ferreira afirma ter querido retratar o sofrimento, afectado por um clima de elevada tensão psicológica e ansiedade.
>
Análise do conto Esta Casa é para Vender
Nesta publicação, de forte teor experimental, o autor aventura-se no género conto longo, com elementos estilísticos de terror gótico. O conto faz, no entanto lembrar, na estrutura, o romancista contemporâneo Stephen King e, na ressonância de elementos mais clássicos deste tipo de literatura - como as descrições do interior da casa, por exemplo - autores clássicos da literatura gótica como, nitidamente, Edgar Allan Poe. Sendo o primeiro livro de Diogo Ferreira, a escrita mostra ainda alguns traços de imaturidade, apresentando-se não muito trabalhada no aspecto estético e na construção frásica ou apresentando por vezes algumas redundâncias1. Em contrapartida, a trama está perfeitamente bem construída - sendo este um dos pontos fortes do livro -, com ênfase na criação de uma atmosfera de terror antecipado, que vemos também, com frequência, em romances de King.
Mas, por outro lado, a narrativa vai adquirindo progressivamente as tonalidades “escuras” que nos habituámos a encontrar em autores clássicos de terror gótico para além do já mencionado Poe, como, por exemplo, Bram Stoker e, um pouco, Henry James. É, de qualquer forma, indubitável a influência da literatura anglo-saxónica dos séculos XIX e XX na prosa deste novo autor.
A sinopse deste conto é-nos apresentada da seguinte forma:
«Gabriel e os pais têm de ir ao norte do país para tratar da venda da casa do idoso e debilitado avô Luciano, de quem persiste um distanciamento há quase quatro décadas. Ao jovem, que só conhece a realidade familiar junto do pai e da mãe, que nunca saiu do sul, vão ser feitas revelações, deste e doutro mundo, com curtos mas intensos diálogos e muitas palpitações no peito (...)! Preparados ou não, que nos enchamos de coragem para, passo a passo, descobrimos os horrores que envolvem esta família tão simples como enigmática».
Para mim, o aspecto mais interessante da narrativa tem a ver com a possibilidade de o leitor poder decifrá-la de acordo com duas perspectivas opostas: 1) uma interpretação simbólica e até psicanalítica, onde o narrador vai deixando escapar pistas ou indícios, que permitam o desvendar da história, facilitando, de forma gradual e progressiva, o levantar o véu que esconde a real personalidade de Luciano; 2) uma leitura realista-científica em que o jovem protagonista, dotado de uma fértil imaginação e afectado pelo ar decadente da mansão, sofre uma série de alucinações que o conduzem a um episódio de esquizofrenia. Ou então, poder-se-á construir uma terceira via interpretativa que funde as duas hipóteses anteriores.
À medida que a trama se vai desenvolvendo, Gabriel descobre, pouco a pouco, os aspectos ocultos da sua história familiar e ancestralidade que, no passado, culminaram no afastamento e corte de relações dos pais com o avô e, consequentemente, no abandono da cidade onde se deram acontecimentos trágicos. A própria casa parece respirar, ela mesma, a um ritmo muito peculiar, como se fosse um ser vivo a comandar as atitudes estranhas das pessoas que em volta dela gravitam.
Por outro lado, os membros da comunidade local, vizinhos e habitantes das ruas adjacentes vão revelando pistas de carácter ambíguo ao protagonista, despertando-lhe o desejo de saber mais, de desocultar acontecimentos que repousam debaixo de espessas camadas de poeira do passado: passo a passo e levando a cabo um trabalho de detective, Gabriel parte dos vestígios que a casa vai expondo, ao percorrer as diferentes divisões. Cada compartimento que terá de arrumar, vistoriar, limpar e esvaziar para que depois a casa possa ser vendida, ajudará Gabriel a recompor o puzzle que é a vida da mãe e perceber aquele que foi o seu papel dentro da família, antes de casar e sair da cidade, rumo a sul - “a sul”, com sonoridades e tonalidades de azul-liberdade. Por fim, o retrato familiar ilumina-se e Gabriel apercebe-se que a realidade toma uma forma muito mais grotesca do que a máscara com que se posa para uma fotografia.
O acto de sair de casa, levado a cabo pela mãe serve, como veremos ao ler o conto até ao fim, de medida de protecção da nova família, o que explica a sensação de desconforto dos pais de Gabriel ao regressar àquele lugar. É, precisamente, esse acto de fuga e auto-exílio - que lhes torna possível a construção da própria felicidade, como se vê pelo contraste face à descrição do retrato do quotidiano dos pais de Gabriel, logo nas primeiras páginas deste conto, onde o passado lhe havia até destruído destruído parcialmente o corpo da mãe:
«O pai, como se via pela barriga, era bom cozinheiro, de palavra conciliadora, por mais berros que existissem à sua volta e tinha sofrido um ataque cardíaco há um par de anos. A mãe, de corpo esguio e cabelo acinzentado pelos ombros, era a alegria, com gargalhada fácil, daquela família, mesmo que um infortúnio de infância lhe tivesse ceifado a mão direita quando um pesado portão de ferro lhe esmagou o membro» [pg.56].
Há também uma voz doxal, comunitária, a sugerir ser o avô Luciano - apesar de já bastante idoso, dependente e de aspecto fragilizado, prestes a ir para um lar -, na realidade e desde há décadas, alguém “mal visto na rua”. Ou seja, uma pessoa que, desde há muito, não seria estimada pela comunidade. Por outro lado, os pais de Gabriel demonstram sempre uma certa relutância em voltar àquele lugar:
« Teriam de ser eles a tratar de tudo, por mais que o pai abanasse a cabeça em negação e a mãe quase chorasse quando se lembrava que tinha de voltar ali» [Pg.7].
Poderia ficar por aqui a minha análise, mas posso esmiuçar um pouco mais: são os sinais de decadência na própria casa, o principal elemento que indicia existir algo de maligno a ela associada - até mesmo pela adjectivação de teor negativo com que o autor pinta a atmosfera do local, que se tornou estéril e que vai fazendo morrer, dia após dia, tudo à sua volta:
« Cada casa tinha um jardim e todos esses pequenos recantos tinham uma árvore, grande ou pequena. A do avô era a única no bairro em que o jardim estava mal-tratado, a única que estava sem vida, oca, nua de folhagem, sem ponta de raiz saudável para perfurar o solo em busca de água» [pg. 8].
Uma casa, quase em ruínas, a apodrecer como um cadáver, acompanhada por uma árvore morta.
Na cabeça de Gabriel perpassam muitas interrogações, detalhes que nunca se atreve a tentar apurar com os pais, apesar da bonomia dos mesmos, dominado por um medo intuitivo de os fazer sofrer. A família alargada também nunca é referida, como se os pais nunca tivessem tido passado.
Gabriel intui que algo de errado se passa na casa e que esse algo está relacionado com a personalidade do Avô. Todavia ao entrar na casa, a primeira impressão de Gabriel, sobretudo depois de estabelecer contacto ocular com Luciano, é a de uma pesada atmosfera de religiosidade profunda: como se, ao deparar-se com o avô, estivesse, na verdade, a encarar um sacerdote do Antigo Testamento - a própria divindade das escrituras antigas, uma espécie de deus todo-poderoso, austero e terrível. A reforçar a ideia, nota-se a presença de uma imagem religiosa numa mesinha, à entrada.
A decadência física de Luciano é, no entanto, completa degradando-se ao mesmo ritmo da da casa. O seu aspecto exterior inspira pena em Gabriel, sobretudo quando Luciano invoca o nome da filha e do genro, como se fossem a sagrada família: “Maria! José!”. No entanto, engana-se no nome do neto, chamando-lhe ‘Gaspar’ [um dos Rei Magos e não Gabriel, o anjo da Anunciação, que liberta Maria de uma prisão no templo que era a sua casa]. Outro forte indício de que algo está errado é o ar de terror estampado na cara de Maria, que começa a fumar um cigarro, algo que só faz quando se encontra perturbada em extremo. O estado de espírito e, sobretudo, as atitudes externas, o comportamento observável da mãe modificam-se radicalmente naquele lugar, quase como se mudasse de personalidade. Ela torna-se “hirta e rígida” [pg.13]. Há atitudes e comportamentos desconcertantes como o receio e repúdio expressos pela mãe, na cozinha, quando se dá conta das histórias que o avô vai [re]contado do passado: raiva, frustração e, também, descontrole.
Luciano, por seu turno, mesmo inspirando compaixão no neto, faz com que este se retraia uma vez que “é tudo demasiado pesaroso” [pg. 14], demasiado dramático. Lá dentro, tudo é lúgubre, sombrio e opressivo.
Numa segunda fase, após o contacto inicial, o velho tenta inspirar pena no neto e, ao mesmo tempo, voltá-lo contra os pais e o resto da família: a mãe “pôs-se a andar”, quando casou, a avó “fugiu com um homem”, Isaque (o outro filho, tio de Gabriel) “foi-lhe roubado”. Depois há frases de teor emotivo a apelar à piedade do neto de forma teatral: “Aqui sozinho! Abandonado! Vou morrer e ninguém se vai lembrar de mim!” [pg.15]. Luciano prossegue ainda, assumindo o papel de grande vítima, nos dias que se seguem, mas Gabriel “não deixava de pensar na frieza que tomara conta da mãe, desde que tinham chegado” [pg.17].
Há, no entanto, uma personagem que desempenha o papel de informador privilegiado: uma velha, que primeiro encara o pai de Gabriel com ar hostil, cuspindo no chão à chegada. Ela surge, num primeiro momento, como uma Fúria e, depois, como uma Sibila, emitindo um aviso a Gabriel, à laia de oráculo:
«Nunca roubes a mão que te deu de comer» [pg.18]. Há aqui um alerta ambíguo nas entrelinhas do discurso da velha, que assume o papel de pitonisa, que pode ser interpretado como um aviso para Gabriel para não cair no discurso vitimizador de Luciano; ou como uma censura dirigida aos pais deste por terem fugido, sem resolverem as questões domésticas.
Por sua vez, a mãe não se coíbe em alertar abertamente Gabriel sobre o carácter traiçoeiro do pai, assegurando que este recorre com frequência a ardis e mentiras, mas sem entrar em detalhes. O avô é o único a descrever com minúcia as circunstâncias em como a família se dispersara. E entretanto, a afeição do neto pelo avô cresce, vai ganhando espessura [pg.19].
Ao entrar casa adentro e explorar as diferentes divisões, Gabriel apercebe-se que o quarto onde ficará a dormir e será, doravante, o ‘seu quarto’, cheira a mofo. Este fora também o quarto do tio, Isaque, desaparecido misteriosamente. À medida que o tempo passa ali dentro, Gabriel vai-se isolando, envolvendo-se cada vez mais na ambiência o lugar, impregnando-se dos seus odores a decadência:
«Este cheiro a mofo está-me a mocar todo, só pode...» [pg.20]. Começa a ouvir ruídos sem explicação, vozes.
O pai também aparece, por vezes, alterado, lançando olhares “com laivos venenosos que nunca lhe tinha visto” [pg.23], numa atitude protectora em relação à mãe.
E mais não vou revelar, caso contrário não haverá interesse em ler o livro.
Aspectos formais
Neste conto longo - trata-se de uma narrativa demasiado curta para ser um romance e as personagens têm demasiado relevo para ser uma novela - está quase omnipresente o elemento do sobrenatural que envolve toda a casa [que é, também ela própria, uma personagem animizada] e se mistura com os elementos do ‘real’. Os sonhos de Gabriel no quarto do falecido tio, são indícios, janelas para o passado, a fim de preencher lacunas face às varias histórias familiares que surgem incompletas, fragmentadas, e envolvem vários membros da família e vizinhos.
Pode-se dizer que este sonhos Gabriel são a forma de processamento cerebral que traduz uma tentativa de composição de um puzzle a fim de integrar todas estas estranhas atitudes e alinhar os novos elementos que vão sendo recolhidos, a fim de se construir uma narrativa inteligível. A compreensão das histórias do avô e o seu reverso, são desvendados durante o sono de Gabriel ou através de ‘visões’ e insights, sempre que perde a consciência ou sai do estado de vigília: Gabriel chega a dormir vários dias seguidos, enquanto vai integrando a informação obtida por meio de objectos pessoais dos habitantes da casa, fotografias, etc.
Gabriel assume, pois, o papel de ‘vidente’, sucedendo à velha, que tinha o hábito de cuspir no chão. Revelações surgem na narrativa sob a forma de discurso indirecto livre, onde há como que uma sobreposição entre o discurso do narrador e o discurso da personagem. As cenas finais contém um desfecho inesperado em que Gabriel passa a assumir, ele próprio, a persona de um ser sobrenatural.
O que traz valor literário a este conto é o final, deixado em aberto, ao mesmo tempo que há uma elipse: não se sabe se Gabriel chegou ou não a confirmar as suas descobertas através dos insights que lhe chegavam durante o sono. Ou se tudo não seria fruto de uma mente hiperactiva, estimulada pela atmosfera de uma casa-mausoléu, que ‘vive’ ela própria, por si e para si mesma, e que, por tudo isto, só lhe resta um único destino: ser posta à venda.
Altura, Vila Nova de Cacela, 22.09.2024 - Antas, Vila Nova de Famalicão, 29.05.2025
Cláudia de Sousa Dias
Monday, May 26, 2025
‘Histórias Eróticas’ de Giovanni Bocaccio (Edições Quasi)
Este pequeno livrinho da já extinta editora famalicense dá-nos apenas uma pequenina amostra do livro original, Decameron, muito mais extenso e detalhado, mas serve perfeitamente como “aperitivo” para a obra de um escritor que escreveu, se calhar, um dos primeiros romances da literatura ocidental, tal como hoje é concebido esse género literário. Uma narrativa longa, composta por uma pluricidade de vozes, correspondendo, cada uma delas a um capítulo que encerra em si, uma história específica, mas todas elas com um denominador comum: servir de entretenimento a um grupo de indivíduos confinados durante o período de isolamento face ao flagelo que foi a Peste Negra na Europa.
Giovanni Boccaccio nasceu em Paris em 1313 e faleceu em Certaldo, em 1375. É um autor humanista-renascentista que revolucionou a literatura do século XIV. As histórias aqui representadas foram retiradas do volume Decameron (do grego ‘Dez Dias’), período que corresponde à duração do confinamento decretado face a um surto de peste negra [yersinia pestis] durante a qual dez jovens narram, cada qual à sua vez, estas histórias. Boccaccio é, assim, um dos primeiros autores a recorrer à heteronímia para contar estas narrativas. Cria, assim, dez personagens que são, elas próprias, autoras ou recolectoras de experiências, transformadas em contos/estórias. Este, mais do que eróticos, poder-se-ão antes classificar de ‘amorais’ e que os editores afirmam serem ‘desenhados com realismo’. São contudo, na verdade, novelas satíricas, na sua maior parte, ao transportarem-nos para uma sociedade medieval que é ridicularizada. Nestas estórias impera “o humor, a fantasia, a volúpia e a malícia”. A tradução portuguesa foi levada a cabo por Urbano Tavares Rodrigues. A seu tempo, será feito neste blogue o comentário à edição inglesa (integral) e italiana (original), enquanto não conseguir aceder a uma edição integral em língua portuguesa, idealmente uma edição crítica e bilingue, para que possamos aceder simultaneamente ao discurso original.
O humor inscrito nestas estórias perde um pouco da sua força com a tradução para o português: a percepção dos jogos linguísticos da língua de partida, aqui, esbate-se um pouco. Essa perda é, contudo, minimizada pela maior facilidade na correspondência linguística entre a língua de partida (o italiano medieval) e a língua de chegada (o português contemporâneo).
As doze estórias aqui contidas sabem realmente a pouco, podendo perfeitamente serem lidas em voz alta, diante de uma lareira, numa reunião familiar. O aspecto cómico-burlesco apresenta-se destituído de qualquer tipo de descrição gráfica ou linguagem obscena. O título escolhido para esta edição serviu pois o propósito de captação de um segmento do mercado exercendo a função de ‘isco’ aos leitores que não estivessem propriamente familiarizados com o autor e para os quais o título original se apresentaria algo hermético ou, no mínimo, estranho.
Passemos, pois, às histórias ou novelas propriamente ditas:
1. “O Jardineiro do Convento” - «Masetto da Lamporecchio finge que é mudo e torna-se jardineiro num convento de freiras. Todas elas fazem por dormir com ele». Esta primeira estória assemelha-se, de certa forma, a uma das rábulas de Gil Vicente ou a uma opera buffa na qual «Masetto da Lamporecchio ao fingir-se de mudo, torna mais fácil a sua inserção num convento de freiras, já que fornecer uma oportunidade de trabalho a um jovem com uma limitação física consituiria um acto de caridade conforme ao espírito daquela instituição. No entanto esta acaba por ser a história de um jovem que se mostra muito entusiasmado em “jardinar” as “flores” humanas daquele lugar, normalmente interdito a homens - falantes, sobretudo. Dedica-se a exercer com primor a “arte” e confirmando-se, mais uma vez, o velho adágio de que “quem desdenha quer comprar”, onde as acções do jovem dementem o diálogo inicial com o colega jardineiro, a caminho de se reformar. No final, o outrora jovem - agora já bem entrado nos anos [e não só] é largamente recompensado pelos serviços prestados.
2. “Penitência e Paraíso” - «Dom Felice ensina ao irmão, Puccio, a maneira de atingir a felicidade, fazendo a penitência que lhe indica. O irmão Puccio assim faz e Dom Felice aproveita para passar algumas horas agradáveis com a mulher dele».
Nesta estória, o autor decide dar um soco no estômago à soberba moral, que se manifesta normalmente na pretensão humana em atingir a perfeição espiritual daqueles que, não raro, negligenciam as reais necessidades do corpo (eros) e da alma (psyche), as dua grandes dimensões da vida humana que estão intimamente ligadas através das emoções que resultam do conforto proveniente do amor e entendimento mútuos. A crítica aqui é sobretudo dirigida a uma sociedade comandada por aquilo que Sigmund Freud chamaria mais tarde de super-ego, o qual, representado pela figura de Puccio, oblitera a quase totalidade do eu, como se as pessoas conseguissem apenas viver de orações e penitências, sem afectos nem carícias.
3. “O Manjerico” - «Os irmãos de Isabetta matam o amante da irmã. A infeliz vê-o em sonhos e fica a saber o local onde está sepultado. Desenterra, então, em segredo, e cabeça e esconde-a num vaso de manjerico. Todos os dias, durante uma longa hora, derrama lágrimas nesse vaso. Os irmãos tiram-lhe e ela morre de dor pouco depois».
Nesta história estão presentes muitos elementos do universo gótico e macabro, adquirindo a prosa um tom que raia o tom melodramático. A ‘troika’ ou tríade composta pelos irmãos que, friamente, planeiam e executam um crime, ocultando o cadáver, é motivada por questões financeiras primárias: não ter de dar o dote à irmã para que esta pudesse casar, tendo em conta o facto de o potencial noivo não ser um partido financeiramente interessante para a família. A estória em si expõe a natureza das relações familiares e das motivações que levam às alianças matrimoniais na Época Medieval: era então muito comum nas estruturas familiares patriarcais, sobretudo nos estratos sociais mais abastados, ser dado muito pouco valor à vida humana. Trata-se de uma estrutura social assente numa cultura onde não eram favorecidas relações sociais ou amorosas com pretensões matrimoniais, que não incluíssem interesses económicos ou financeiros. O mesmo não se aplicava a relações extra-conjugais ou clandestinas.
Os irmãos acabam por sair de Messina, face ao risco de virem a ser descobertos e migram para o reino vizinho, onde permanecerão incógnitos e os seu passado mergulhado nas sombras das ruas de Nápoles.
4. "O Canto do Rouxinol" - «Ricciardo Manardi é apanhado em flagrante delito com a amante pelo pai desta, Lizzio da Valbona. Ricciardo casa com a jovem e fica em paz com o sogro».
Esta é uma das minhas histórias preferidas em toda a antologia. Não pelo final feliz, tipicamente delicodoce dos contos de fadas, mas pelo humor e estoicismo do Senhor de Valbona. Trata-se de uma história romântica onde a beleza da jovem e a fortuna do pai se combinam às mil maravilhas para fazer o jovem mancebo cair irremediavelmente apaixonado. Mas o que realmente me diverte é a cumplicidade dos jovens amantes, recorrendo, uma e outra vez, aos mais mirabolantes estratagemas para se encontrarem, iludindo a vigilância dos pais da rapariga. A acção passa-se na Romanha (Romania) e mais parece uma versão cómica da peça Romeu e Julieta de William Shakespeare, mas com final feliz. Agrada-me particularmente a invulgar resignação e pragmatismo deste Pai, medieval mas cavalheiro, e cheio de bonomia para com as traquinices amorosas do casal.
5. “O Falcão” - «Federigo degli Alberighi ama e não é amado. A fim de mostrar o seu fausto, gasta todos os seus haveres. Só lhe resta um falcão. Não tendo mais nada de seu, dá-o a comer à sua dama, que o visitou. Ao ter conhecimento disso ela muda de parecer, toma-o por marido e enriquece-o».
Trata-se de uma estória romântica que, mais uma vez, não tem nada de erótico e, ao contrário da anterior, nem sequer de maliciosamente humorística. Este é antes um caso típico em que o romance se une ao pragmatismo numa união matrimonial. Na verdade, o protagonista havia sido um muito bem sucedido ‘playboy’ da era medieval, que tendo delapidado todos os seus bens, decide jogar a última cartada com uma pretendente abastada, a quem tentava, a todo o custo e já há algum tempo, impressionar, sem sucesso. A jovem viúva comove-se tomando a última tentativa desesperada do mancebo em apropriar-se de uma nova fortuna, mascarada de despojamento, por amor sincero. Para mais, a criança que seria herdeira dos bens tutotiados mãe no anterior casamento morre depois em circunstâncias trágicas, tornando-a ainda mais rica (e desposável). O seu encanto cresce em proporção directa do valor da conta bancária e das propriedades herdadas. Na verdade, só o acto de pensar em gerir (e gastar) a fortuna da esposa é já afrodisíaco o suficiente para lhe conseguir uma erecção.
6. “De Qualquer Maneira” - «O marido de Petronella regressa a casa e ela esconde o amante num tonel. Ora, o marido acabara de o vender, mas ela assegura, por sua vez, tê-lo vendido a um homem que está precisamente dentro dele, a ver se está em bom estado. O indivíduo sai então do seu esconderijo, faz com que o marido raspe o tonel e acaba por levá-lo consigo».
Nesta estória, o pragmatismo é, mais uma vez, o aspecto que mais se destaca. Apenas desta vez assume as roupagens da farsa e não do melo-dramatismo da novela anterior. A rábula beneficia do carácter ingénuo do marido enganado, tal como acontece em algumas outras já aqui mencionadas, bem como da esperteza e sagacidade da mulher cuja agilidade de raciocínio a faz sair de uma situação complicada e, ao mesmo tempo, realizar um negócio ainda mais lucrativo do que aquele que havia realizado o cônjuge, graças à bolsa avultada o amante. O marido acaba por ser colocado, sem sequer suspeitar, no papel de proxeneta involuntário. O amante, que não tem outro remédio senão pagar o preço inflaccionado por um tonel que nunca pensou adquirir, tem de anuir sem protesto. Os dois homens têm neste noveletta um papel essencialmente passivo, estando o desenvolvimento da acção totalmente a cargo da protagonista feminina.
7. “As Impressões do Além” - «Dois homens de Sienna amam a comadre de um deles. Este último [o compadre] morre para cumprir a palavra dada, volta junto do amigo a fim de lhe contar as suas impressões do Além».
Trata-se, mais uma vez de uma sátira que daria um excelente argumento para servir de base a uma opera buffa. Os dois protagonistas masculinos são dois homens de origem modesta, ambos praticantes de hábitos religiosos regulares, perfeitamente enraizados no quotidiano, mas a intensidade da fé de cada um e a qualidade de afecto demonstrado diferencia-os de forma abissal. O tipo de adoração de ambos pela mesma fidalga rica e casada, marca o curso de vida de cada um de forma radicalmente oposta: um dedica-lhe uma afeição respeitosamente platónica e cortês, o outro decide aproveitar-se da ingenuidade do amigo e das vantagens e proximidade proporcionadas pelo compadrio, para fazer avanços concretos e muito físicos. Mas tanto para um quanto para outro, na questão dos jogos amorosos, só existe uma regra. A de que não existem regras. Um beneficia da oportunidades dadas pela proximidade da situação social, dos laços familiares e afinidades, pelo facto de frequentar a casa da dita senhora. O outro aproveita-se da ingenuidade e do carácter pio do amigo, para criar uma oportunidade.
Estando já a meio do livro é possível verificar que a sátira boccacciana é, na maior parte das vezes, dirigida à voracidade sexual de ambos os sexos - daqui vem, em parte a escolha do título para esta antologia - e, sobretudo, à manha atribuída às mulheres, cujos ardis presentes em figuras femininas independentemente do seu estado civil, as leva quase sempre a levar a melhor face ao sexo masculino. Neste caso, a intensidade do ardor sexual da amante de Tingoccio extingue-lhe de tal forma as energias que este acaba morto, exaurido de tanta actividade. Este regressa, no entanto, três dias depois, qual Cristo ressuscitado, aparecendo a Meuccio, o amigo, conforme o prometido, para lhe descrever a passagem ao outro mundo. Pela descrição, Tingoccio terá sido condenado ao purgatório, mas tenta fazer com que Meuccio, que terá pecado apenas em pensamento, seja condenado a pena idêntica para ter companhia no Além.
8. “Ligações Perigosas” - «Esta é a estória de dois amigos, ambos casados. Um deles era amante da mulher do outro. Este descobre tudo. Com a cumplicidade da esposa infiel, fecha o amigo numa arca e deita-se em cima dela com a mulher da vítima [aqui não se percebe muito bem qual é a vítima de que fala]».
Este é, praticamente um caso de ‘swing’, num exemplo levado ao extremo da flexibilidade das regras sociais da moral vigente e que visam preservar laços de amizade. Ou de uma vingançazinha com laivos de sadismo paroquial.
9. “Há males que vêm por bem” - «Vítima de um roubo, Rinaldo d’Asti chega a Castel Guiglielmo onde se hospeda em casa de uma viúva. É indemnizado em todas as suas perdas e regressa a casa são e salvo».
A estória desenrola-se no cenário piemontês, em Bolonha, mais propriamente na estrada entre Ferrara e Verona, ilustrando os perigos com que então se defrontavam os viajantes. Sobretudo se transportassem dinheiro ou valores e mercadorias caras. As ciladas com que se deparavam eram complexas e refinadíssimas na sua subtileza, para quem não tivesse os olhos treinados e não viesse prevenido com numerosa escolta armada.
Ao protagonista desta estória salva-o a generosa - e amorosa - hospitalidade de uma viúva, conhecida amante de um senhor local. Destaque-se desta vez a punição exemplar, sofrida pelos salteadores, que é demonstrativa do medo que estes provocaram não apenas nas populações mas sobretudo nas classes mais abastadas.
10. “O Companheiro de Viagem” - «Três jovens dissipam toda a sua fortuna e ficam reduzidos à miséria. Um sobrinho deles, ao voltar desesperado para casa encontra um abade. Este, na realidade, era a filha do rei de Inglaterra. A princesa casa com ele, restaura a fortuna dos tios e dá-lhes uma brilhante situação».
Esta é uma das poucas histórias desta antologia onde a figura da mulher não é exactamente retratada como uma personagem dissoluta ou perita em ardis, ou dotada de maleáveis princípios morais. Neste caso, é a família do protagonista que toma para si estas características, adoptando um comportamento financeiramente imprudente e perdulário. O protagonista, por seu lado, mostra-se um competente gestor financeiro, com hábitos de poupança e gastos comedidos. E, no final, o jovem é recompensado tanto pela beleza física como pelo carácter, adquirindo inclusivamente um título nobiliárquico do mais alto valor: o de Príncipe Consorte. A jovem princesa, por sua vez, é uma mulher muito segura de si e das suas escolhas, além de excelente analista de carácter. A atitude que tem com o futuro marido ainda antes de se casarem mostra não apenas um nível de autoconfiança invulgar para a época, mas mais do que isso: a certeza de se saber acima do controlo social do resto do membros da comunidade. Ela controla e decide sobre todos os aspectos da sua vida, inclusive a sexualidade, ao escolher o marido que lhe agrada e não aquele que a família lhe quer impor.
11. “Os Perigos de Nápoles” - Tendo ido a Nápoles comprar cavalos Andreuccio de Peruggia sofre, numa só noite, três acidentes graves. Escapa de todos eles e regressa a casa na posse de um rubi».
Esta estória é a mais longa da antologia, sendo por isso aquela que melhor encaixa formalmente na categoria de novela - conto longo, onde as personagens são sobretudo planas. Nela, os viajantes ricos demonstram terem, em terra estranha e onde a criminalidade é alta, algumas atitudes imprudentes como a falta de discrição quanto ao facto de transportarem muito dinheiro consigo. Novamente aparece uma figura feminina, de comportamento dissimulado e moralidade dissoluta, a usar o poder de sedução a fim de criar uma armadilha para hóspedes incautos e extorqui-los com a ajuda de uma rede de cúmplices. Esta rede é na realidade uma quadrilha organizada e a dama de grande beleza o isco que serve para atrair as presas de bolsos (e baús, alforges ou carruagens) recheados.
Inclusive “Nápoles não era uma cidade onde as pessoas pudessem circular de noite, sobretudo quando se era estrangeiro”. Estes grupos organizados seriam, provavelmente (?), os antepassados da famílias que deram depois origem, séculos depois, à temível organização da Camorra, por se acharem sempre acima ou fora da lei e contra o Estado.
Por fim, Andreuccio consegue fintar os criminosos usando um ardil e servindo-se de uma pedra preciosa como isco. Como prémio de consolação, consegue um esplendoroso anel com a referida pedra ao invés dos cavalos que pretendia negociar.
12. “A Adolescente e o Eremita” - Alibech torna-se eremita. O monge Rústico ensina-a a meter o diabo no Inferno. Alibech afasta-se de Rústico e casa com Nurbale».
O cenário desta estória será, desta vez, no Próximo Oriente - entre o antigo reino da Babilónia, actual Iraque, e o Egipto “nas solidões do deserto da Tebaida” (pg.89). A protagonista é uma jovem ingénua, oriunda de uma família abastada que decide fazer uma peregrinação e isolar-se num retiro espiritual/religioso. Mas nem todos os guias espirituais são iguais. Alguns são mais espirituais do que outros. Na trama estão também presentes vários estereótipos sociais dentro da hierarquia da Igreja: ali há os que praticam a virtude e colocam a ética acima dos próprios desejos egoístas - e até do Desejo em si mesmo - e do prazer; mas há também os que não querem saber de ética para nada, usando a capa da religião para gozar dos privilégios que a posição social atribuída pela Igreja lhes confere, como é o caso do Abade Rústico. Esta é uma das personagens mais vis de toda a antologia e que, tal como acontece em alguns actos de Gil Vicente, incarna alguns do maiores vícios dentro da classe, ocultos sob um conspurcadíssimo manto de respeitabilidade. Rústico. debaixo da capa de clérigo, é um sátiro que só obedece ao impulso da luxúria. O único ‘treino espiritual’ em que realmente se empenha em “treinar” a inocente Alibech é o de lhe acordar a sexualidade. Esta, quando se cansa de ser apenas um objecto nas mãos de Rústico decide abandoná-lo e casa com alguém que deseja mais do que o seu corpo jovem ou o seu recém-despertado erotismo. A estória apresenta um final que se supõe ser feliz, sempre contado com o humor malicioso (ou sarcástico?) dos confinados heterónimos do autor, Boccaccio. Daqui depreende-se que a personalidade enganosa de Rústico desempenha um papel fundamental, assentando na criação de um contraste com a personagem Alibech. Apesar tudo, pode-se considerar que o final seja aberto - mesmo com a sugestão de que se trata de um final feliz. Alibech enriquece, face a uma tragédia familiar e torna-se objecto de cobiça, particularmente por jovens caídos em desgraça que procuram uma forma fácil de resgatar uma fortuna perdida ou de ascender socialmente. Este parece ser o caso de Nurbale, o noivo, independentemente da idoneidade do seu carácter (que não é referida do texto). Não se sabe, na verdade, se a jovem foi ou não feliz no casamento (tal como na maior parte do conto de fadas tradicionais nas versões mais antigas), mas na retórica de Boccaccio, a voz doxal da comunidade dá a entender até que ponto a jovem era inocente. A conduta de Alibech é observada e comentada publicamente, mesmo sem ser julgada em termos farisaicos. Ainda assim, tornar-se-à objecto de escárnio ou chacota em conversas de taberna pela mesma comunidade que terá tanto de hipocrisia como de corruptibilidade nos mais íntimos recessos da vida privada.
Cláudia de Sousa Dias
Vila Nova de Famalicão, 25 de Maio de 2025
Monday, May 19, 2025
“Amália, Ditadura e Revolução: a história secreta” de Miguel Carvalho (Dom Quixote)
Porto, 2 de [M]arço de 2020
Tive a felicidade de receber um exemplar das mãos do autor, jornalista que vai assumindo cada vez mais a faceta de escritor de não-ficção, onde a investigação jornalística é desempenhada com zelo e paixão, tingida com as cores da componente historiográfica. Partindo deste ponto de vista, a escrita de Miguel Carvalho tem vindo, nas últimas décadas, a desempenhar um papel cada vez mais crucial na preservação da memória histórica de acontecimentos que culminaram em profundas alterações sociais ao longo do século XX e transbordaram para o nosso tempo presente. O título desta biografia chama logo a atenção não apenas pelo mediatismo da figura da eterna diva do fado em si mesma, mas pelo subtítulo ‘Ditadura e Revolução’ - ainda mais do que pelo apelo da ‘história secreta’ por incidir numa faceta menos conhecida da vedeta, o seu lado humano, solidário com as vítimas do regime e verdadeiro amor à poesia. No entanto, o que realmente espicaçou a minha curiosidade como leitora foi o facto de Amália ser uma figura que transitou de um regime político para outro, movendo-se como um cetáceo que cruzasse diferentes oceanos, iludindo fronteiras e acabando por ocupar, ela própria, um lugar de fronteira na música - antes e depois da revolução. Garantindo sempre a posição assegurada num nicho que se pode quase que classificar de ‘não lugar’. Amália foi, assim, a nómada de entre dois regimes, assim como a eterna viajante, em permanente transumância, vendo-se não raro mais apreciada fora do próprio país do que no lugar que a viu nascer como se vê logo no prefácio onde o autor traça um paralelo entre a vida da diva portuguesa e a homenagem a uma figura idêntica a surgir, aludida do princípio ao fim, num filme do realizador italiano Federico Fellini. Começarei então por apresentar o ponto de vista do Jornalista e Investigador Miguel Carvalho, citando na íntegra o texto introdutório [eu não escrevo segundo o AO90, como o autor, mas segundo o AO45, por isso poderão encontrar, aqui e ali, fonemas introduzidos entre parêntesis rectos]: «COMO AMÁLIA ME ACONTECEU E la nave va (1983), desconcertante filme de Fellini cuja a[c)ção decorre a bordo de um luxuoso navio, é o relato de uma viagem destinada a dispersar as cinzas da “maior cantora de todos os tempos” à volta da ilha onde nasceu. Durante a navegação, cada passageiro reclama a posse da “verdade definitiva” sobre a vida da extinta “voz dos deuses”. Juram conhecê-la melhor do que todos os outros, alardeiam intimidade, detalham e retalham-lhe a existência e a carreira. Uns desesperaram a tentar compreendê-la, outros presumiram tê-la desvendado. E, no entanto, “para além do mito da cantora”, havia nela, segundo uma personagem, uma menina muito sensível e sozinha: “Quantas definições, quantas palavras, quantas histórias escreveram sobre ti. Mas nunca disseram quem realmente eras.” Quem foi realmente Amália Rodrigues? A ideia de escrever sobre ela acompanhava-me desde a sua morte. Amadureceu nesses dias de elogios fúnebres e pelos anos fora, à boleia da polifonia de testemunhos e umas quantas recordações, a fazer lembrar o ambiente vivido no navio de Fellini. “Todos temos Amália na voz”, cantara António Variações, com propriedade. E todos pareciam reivindicá-la. Eu, que cheguei ao canto daquela mulher aí pelos meus 14 anos, através do saxofone do Rão Kyao (Fado Bailado), senti-me, com o tempo, fascinado pela “estranha forma de vida”, que se escondia atrás do palco, das luzes e dos holofotes, à margem dos enredos, do voyeurismo e dos sentimentos de posse em torno da figura pública. A Amália que me interessava era a da mulher e das circunstâncias políticas que viveu. A história de como atravessara dois regimes e preconceitos ideológicos até ao final e para lá do século que foi o seu. A ditadura namorou-a, exportou-a e Amália, verdade seja dita, não se fez rogada. Mas ela guardava também os segredos das existências incertas e vacilantes. Por isso, soube iludir vigilâncias e amarras, acudindo a opositores políticos e cantando versos de autores proibidos, resgatando-os do silêncio e da perseguição. A democracia, sobretudo após a Revolução do 25 de Abril de 1974, não lhe foi meiga. “Eu simbolizava a noite e o Zeca Afonso, o dia”, disse ela, amargurada, recordando esses tempos de libertação cole[c]tiva para um povo, mas de “martírio” para os seus dias, acusada de colaboração com a polícia política e vassalagens ao regime deposto. Amália Rodrigues sobreviveu a silenciamentos, calúnias e ataques e até mesmo à sua morte antecipada - e do próprio fado - tantas vezes proclamada. Embora pouco estudada pela academia, muito se escreveu sobre o percurso artístico da voz inalcansável de Portugal no mundo, elogiada por nomes tão diversos como Jorge Luís Borges, Gonzalo Torrente Ballester, Nélida Piñon, Leonard Cohen, Edith Piaf e Caetano Veloso. Sozinha, encarnava as vozes de todos os povos. Era, na visão profética de José Carlos de Vasconcelos, “uma fantástica criatura de música e de palavras, que voava amarrada ao nosso chão e ao nosso destino”. No meu caso, sempre me seduziu a figura de Amália Rodrigues para além da carreira artística e das molduras onde tantas vezes a encaixaram. Mesmo não tendo ela uma biografia política - era, no princípio e no fim, uma artista superlativa - creio que Amália reclamava há muito um olhar, neste caso jornalístico, sobre o seu percurso à luz do Estado Novo, da Revolução e da construção democrática, até por todas as clandestinidades e histórias marginais esquecidas e ignoradas em função da construção do mito. Amália Rodrigues transcende-nos. Consciente das qualidades e atavismos do seu povo, ao qual pertencia “sem orgulho nem pena”, cantou-o nas suas introspe[c]ções melancólicas e pessimismos. Nele, apreciava a lucidez, mais dramática do que trágica, “entre a dúvida constante e um certo tipo de inquietação”. Selvagem como um cardo, paradoxal, misteriosa e contraditória, seguiu a intuição, “mãe de todas as inteligências” , sem se considerar indispensável. “Posso não prestar para nada, mas sou verdadeira”, dizia, certa do esquecimento que, afinal, nunca viria. “Cada um de nós viu e amou nela, necessariamente, coisas diferentes e, confundindo a imagem com a realidade, discutimo-la muitas vezes com base nesses estereótipos redutores que continham, cada um deles, pedaços de verdade mas nunca ‘toda’ a verdade”, escreveu o musicólogo Ruy Vieira Nery. Para Joaquim Sarmento, membro do PCP na clandestinidade e antigo deputado do PS, Amália não era de direita nem de esquerda, mas “simultaneamente suserana e Povo”. Por isso, na sua voz se encerra “o paraíso dos justos e inocentes e o cadafalso dos condenados, mescla de aristocratas, de rufiões, de burgueses, de operários que saltam os andaimes da sorte, o luar de todas as prostitutas e de todos os marginais”, mas também “o Poder e a corte deste, o contrapoder e a sua ambição enrolada”. Mais do que atribuir-lhe uma moral her[ó]ica, ética universal ou pertença a qualquer entidade cole[c]tiva - o que seria ridículo, tendo em conta a sua personalidade -, esta investigação jornalística pretendeu, tanto quanto possível, iluminar as brumas do percurso sussurrado do “heterónimo feminino de Portugal”. A definição cunhada pelo poeta David Mourão-Ferreira, assenta no que nela existiu “de raça e de graça plebeias, definitivamente imunes a todos os vírus da vulgaridade” ou “de genuína cepa aristocrática”, mas tão livre e tão forte que nem cabe na moldura das árvores. Amália Rodrigues é, ainda hoje, uma obra aberta, onde cabemos todos, sem divinizações. “Como todas as figuras tornadas mitológicas em vida” a fadista era, no feliz retrato de Clara Ferreira Alves, “um ser imperfeito”, humano, “ao contrário dos que nos querem fazer acreditar as sucessivas canonizações”. E várias vezes se cai ainda na tentação de colocá-la um patamar acima da espécie humana, incensando-a ou tornando-a intocável. Luxo de uma ditadura, idolatrada por um povo tolhido nos seus sonhos, Amália foi, no pós-revolução, vítima de desinformação e de trincheiras assanhadas, típicas de tempos convulsos. Por preconceito, inveja e oportunismo tornou-se, durante os primeiros meses de liberdade, vítima de ataques, calúnias, mentiras e meias-verdades que hoje nos habituámos a ver defendidas em outras plataformas, de forma refinada. Ela poderia ter-se defendido com argumentos de peso. Podia ter trazido a terreiro diversos nomes, circunstâncias e episódios para escudar-se de monstruosidades. Mas a tudo resistiu, certa da sua arte, da sua condição e da passagem do tempo, que tudo repõe no seu lugar. Não o fez em silêncio, é certo, mas nele adormeceu e preservou verdades, figuras e ocorrências que só a dignificam e se tornam incómodas para outros. Amália foi acusada de ser “a Princesa da PIDE” e de se ajoelhar à ditadura como sabem aqueles que com ela lidaram de perto, nunca se libertou desse desgosto. O facto de, em 2019, ter sido vetada a atribuição do seu nome a uma rua no Luxemburgo, por causa das suas alegadas afinidades com a ditadura remete-nos para a importância de desvendar facetas segredadas, desconhecidas ou esquecidas sobre a cantora. O tema gerou controvérsia entre a comunidade portuguesa naquele país, e é revelador do muito que falta contrastar sobre a figura de Amália Rodrigues, para lá dos consensos sobre a sua dimensão artística. Humanizar Amália e dessacralizá-la usando as ferramentas do jornalismo, as únicas que conheço, é a minha forma de tentar trazê-la para um lugar onde todos possamos rever-nos nela. Santificada, mitificada ou execrada, a figura de Amália já foi adaptada a todas as narrativas e “religiões”, consoante os casos, os interesses e as épocas. Realidade, imagem e devoção confundem-se, mas Amália representa, acima de tudo, uma categoria e cultura à parte, não moldável. Um enorme caudal de entrevistas, fontes, documentos e geografias permitiu-me aproximar a lupa sobre esta mulher que foi “a voz do povo” e seguir o seu coração, independente e livre pensamento, sem receio de se negar ou contradizer. Em vez de a divinizarem as suas atitudes e gestos clandestinos talvez revelem, isso sim, as costuras e a profunda humanidade do seu ser. Muitos dos entrevistados e protagonistas deste livro nunca tinham falado sobre esta temática. A geração que, na sua maioria, não viu nem conheceu Amália Rodrigues para além da voz, merece que lhe seja contada, sem preconceitos nem liturgias, as histórias desta mulher transcendente, minada por controvérsias e estereótipos. “O canto de Amália”, lembrou-nos em tempos Caetano Veloso, “mantinha Portugal vivo e pairava acima de Salazar e da Revolução dos Cravos”. Recordemos, a propósito e de uma vez por todas, as palavras do poeta David Mourão-Ferreira: “Amália teria sido inevitavelmente quem é, fosse qual fosse a época em que vivesse, fosse qual fosse o regime ou a ideologia dominante, sob o qual tivesse nascido ou desabrochado”. Não teve bandeiras nem assumiu compromissos políticos e é completamente descabido atribuir-lhe afeição por uma ideologia. Não era esse o seu universo. Tal não significa, como se comprovará nestas páginas, que fosse indiferente à condição do seu semelhante, ou se distanciasse de certos e constantes apelos. Continuo a acreditar que o jornalismo pode e deve contribuir para uma aproximação à verdade. Uma verdade, ao mesmo tempo simples e complexa. E, se algo se pode concluir acerca de Amália Rodrigues, é que ela nunca correspondeu a outra entidade cole[c]tiva que não fosse o povo português. Não há uma Amália a preto e branco, uma Amália de trincheira. Amália não é pertença de nenhuma capelinha, de nenhum regime. Amália não obedece a qualquer moldura onde a queiram meter. Perceber isso, a sua relação íntima com o povo, é a maior homenagem que lhe podemos fazer. Amália, ser imperfeito e controverso como a vida, dispensa canonizações. Monumento artístico e humano, reivindicada contra ou à boleia da sua vontade, não é, ainda assim, intocável. Por isso, olhar Amália Rodrigues para além da carreira artística, da sua música, do “boneco” e dos caixilhos onde a quiseram meter foi um dos propósitos desta investigação. Tendo sempre presente o que ela disse de si própria numa entrevista de 1976 - “Sempre aguentei as consequências de ser livre!” - saibamos também assumir as consequências de ouvi-la, conhecê-la e revelá-la no que nos legou de talento, poesia, rasgo, humanidade e superação. Amália aconteceu-nos de forma diferenciada. Mas queiramos ou não, habitamos o seu coração indomável, aquele fado, aquele poema e aquele momento, entre a maldição, o desencanto, a ternura e a libertação. “Tenho qualquer coisa em mim de Portugal, que as pessoas sentem”, dizia. Nela estamos e estaremos todos. Mesmo aqueles que ainda não a descobriram, por infelicidade, distra[c]ção ou preconceito. Devemo-nos e ao futuro, uma Amália Rodrigues plural, onde todos possamos rever-nos, sem fanatismos, habitando o seu canto, versos e humanidade, do Abandono à Primavera, da Fria Claridade à Gaivota, com novas e velhas roupagens. Sem rasuras nem evangelizações, mas conscientes ainda e sempre do privilégio que foi tê-la e que é ouvi-la, ainda hoje, por dentro de nós.» Trata-se na verdade, de uma biografia muito completa - já não na primeira pessoa nem com a componente confessional e diarística presente na biografia elaborada por Vítor Pavão dos Santos, de que falaremos brevemente, aqui, neste blogue - que percorre toda a vida da autora com uma narrativa que vai correndo, fluida, em estilo documental. É assim que a Amália, ‘pintada’ por Miguel Carvalho nos surge no seu contexto social: origem humilde, de uma família beirã, deslocalizada para Lisboa, onde a sua voz se vai fazendo notar, a partir de Alcântara e crescendo pelas ruas adjacentes até chegar a Alfama, ser descoberta por um Pigmalião que se deslumbra com a sua beleza e voz [não vou dizer que foi, para tal terão de ler o livro], que lhe abre as portas para um meios social de elite - aristocracia e alta burguesia - que a ouvem fascinados. Mas não só. Amália trava também amizade com poetas, músicos e várias personagens do mundo das artes performativas destacando-se pela sua extraordinária sensibilidade artística. Olhada com desconfiança pelos diferentes regimes, consegue passar incólume, sobrevivendo às maiores convulsões políticas que sacudiram o País ao longo do século passado. Ao lermos este livro de Miguel Carvalho ficamos a perceber que, mais do que fiel a uma ideologia, Amália Rodrigues foi sobretudo fiel a si mesma: isto é, à arte, à beleza do canto, da música e da poesia, passando por entre as malhas da censura, sempre que necessário (o caso do fado de Peniche). Ou, noutras ocasiões, resistindo a invejas mesquinhas e difamações. Num e noutro caso, sempre vertical, sem jamais ceder a um princípio que sempre foi, para si, fundamental: o da solidariedade. Mesmo com os mal-amados (e até odiados) pelo Poder. Haverá ainda ‘Amálias’ hoje em dia...por esse mundo fora? Vila Nova de Famalicão 18 de Maio de 2025 Cláudia de Sousa DiasWednesday, March 12, 2025
Manual para Amantes Desesperados de [Ana] Paula Tavares (Caminho)
Este não é de todo um exercício académico, com procura de intertextualidades e influências literárias na escrita da autora. Aliás, este foi o meu primeiro contacto com a escrita de Ana Paula Tavares. Uma escrita que considero ir ao âmago do que é a condição humana universal, daquilo que é ser mulher - seja em África, na América, na Oceânia, Ásia ou na Europa profunda, na qual, se recuarmos ao tempo das nossas avós, encontraremos muitos pontos de contacto com as mulheres que se movem no contexto comunitário e familiar africano que nos descreve Ana Paula Tavares.
O livro de poesia desta magnífica escritora, natural de Angola, estava na minha estante há já muito tempo. Havia-o adquirido em 2012, nas Correntes d’Escritas, um ano antes de emigrar. Nessa altura, trabalhava ainda, a recibo verde, mas já não tinha o projecto de literatura e cinema que desenvolvia na Biblioteca - e com cuja avença pagava a segurança social -, consumido na fogueira da Troika. Eram tempos de austeridade e a cultura passou, então, a ser vista como um luxo supérfluo, um despesismo inútil, sobretudo na cidade onde eu vivia. Houve um festival de cinema que deixou de se fazer. Sessões de poesia com poetas vindos de vários municípios vizinhos - que levavam vozes subversivas de poetas vivos e mortos a vários locais públicos - foram simplesmente suprimidas.
No meio de tudo isto, a Póvoa de Varzim continuava a fazer a diferença, mesmo com cortes nas verbas. E ainda bem, porque foi lá que conheci Ana Paula Tavares e a sua poesia. Uma voz doce, vinda de África, com uma poesia telúrica, a falar da condição feminina no sul de Angola, entre o mar e o deserto, que emerge da paisagem e se funde com ela. Uma poesia que fala de memória, da voragem do desejo, da fome de amor, da sede de criação e liberdade a partir do barro humano, cozido no fogo do gineceu, à volta do amor e cuidado da família e do cuidado com os mais frágeis. Neste gineceu, as mulheres unem-se como as leoas, para fazer crescer a comunidade, cuidando das novas - e não tão novas - gerações, mantendo aceso o fogo de Vesta (se quisermos fazer uma analogia com os deuses do panteão romano), religando-se através do fogo, para produzir a comida e afastar possíveis ameaças - simbolizadas, a dada altura, pela hiena.
Paralelamente, as relações entre as mulheres e os homens cozinham-se também no fogo do desejo, temática que atravessa toda a escrita de Paula Tavares, neste livro em particular.
Este volume tem apenas 37 páginas, mas confirma o adágio de que ‘é nos frascos mais pequeninos que se encontram os perfumes mais intensos’. Os poemas são pequenos riachos que formam o caudal do rio que é a própria vida. Caudal esse que se projecta no quotidiano dessas mulheres ligadas à terra mas que vão tecendo, dia após dia, o fio da vida ligando a mesma terra aos outros elementos - como o vento que transporta as chuvas e as areias do deserto com as sementes das plantas e os insectos que alimentam os solos e aqueles que lá habitam. E enquanto elas tecem, dia a dia, o fio da vida, confirmam a epígrafe do dito umbundu, logo no início do livro, “Um cesto faz-se de muitos fios” .
Na análise propriamente dita dos poemas de Ana Paula Tavares,verificámos que a sua poesia se plasma no quotidiano instável, de um sujeito poético em trânsito, física e psicologicamente nómada, em fuga. E, contudo, resiliente, movendo-se numa realidade em constante mudança, num cenário de impermanência, como sugere a imagem das dunas. Os amores são líquidos como a areia do deserto que escorre por entre os dedos. E queimam, como se vê no poema logo na página 9:
«Mantém a tua mão
No rigor das dunas
Andar no arame
Não é próprio de desertos
(...)
Mantém a tua mão
Perpendicular às dunas
E encontra o equilíbrio
No corredor do vento
A nossa conversa percorrerá oásis
Os lábios a sede
Quando saíres
Deixa encostadas
As portas do Kalahari»
Depois, no poema seguinte (pp. 10-11), dá-se a continuidade ao raciocínio:
«Pode ser que me encontres
Se caminhares pelas dunas
Sobre a ardência da areia
Por entre as plantas rasteiras
(...)»
No livro, estão ainda presentes múltiplas vozes, embutidas no discurso do sujeito poético, vozes femininas, que o mesmo vai fazendo desfilar à medida que as convoca, para a apresentação deste carnaval polifónico de vozes do deserto a surgir em simultâneo (pg.13): a rola, o cuco, o bem-te-vi. E não é por acaso que estas são vozes com asas, vozes de liberdade, que se contrapõem às do animal doméstico, a parir no curral - que tanto podem ser as vacas como as mulheres que nunca saem do curro do patriarcado (de lembrar que Maria deu à luz Jesus numa mangedoura), diferentemente da voz narrativa, da amante, que vagueia, livre e sem amarras e cuja vista se perde no horizonte, como o vento no deserto.
Depois, há também a presença do invasor, o antagonista, o destruidor da harmonia - representado pela hiena - que pode ser a metáfora do soldado, do mercenário, da guerra propriamente dita ou, simplesmente, algo que desrespeita, que entra de forma violenta e desautorizada no espaço privado feminino, semeando o caos e a dor. Num poema, a hiena leva o cabrito pequeno e parte a cabaça dos sacrifícios (pg.13), ou seja, dá-se uma ruptura com o sagrado, o objecto que preserva a ligação entre os humanos e os deuses e mantém acesa a fogueira que garante a sobrevivência da humanidade, pois esta precisa do fogo, como já foi dito, também para cozinhar:
«Dormias
Enquanto cantava a rola
O cuco e o bem-te-vi
Dormias
Enquanto duas vacas
Pariam no curral
Dormias
Quando a hiena entrou no cercado
Levou o cabrito pequeno
E partiu a cabaça dos sacrifícios
(...)»
Nestes poemas fala-se, também, de insubmissão de amores contrários à lógica e ao interesse, à ordem social e às hierarquias, obedecendo apenas aos corpos (pp.14-15):
«Devia olhar o rei
Mas foi o escravo que chegou
Para me semear o corpo de erva rasteira
(...)
Devia olhar o rei
Mas baixei a cabeça
Doce terna
Diante do escravo.».
O sujeito poético curva-se assim, acima de tudo, ao desejo, ao seu tempo e ritmo próprios (pg. 16)
«Nas tuas mãos
Ardia
barco de espuma
rede
das tuas mãos escorria
língua de fogo
sede
nas tuas mãos
sentia
dobra do vento
febre
nas tuas mãos tremia
nome de vida
tempo.»
Todavia, o tempo do amor e da guerra coexistem, por vezes, em simultâneo, em locais diferentes. A ocorrência desta simultaneidade é perceptível na sucessão sequencial dos poemas da Autora, que nos faz notar que a tranquilidade e o tumulto podem ocorrer no mesmo instante em loci diversos, dada a imensidão geográfica de uma região como a do deserto do Kalahari: o amor livre , ao som do canto das aves, a dor das vacas no curral, a dar à luz os seus bezerros, o fim de uma vida que praticamente não viveu como a do jovem cabrito, levado e, provavelmente, morto pela hiena.
Na floresta, no deserto, fora dos grandes aglomerados humanos, dos currais, ou seja no mundo livre, os poemas tingem-se das cores da rebelião subversiva (pg. 17):
«Reconheço a tua voz
no lume das dunas
clara grave
com um leve travo amargo
entre as vogais
reconheço a tua voz
no tronco retorcido das árvores
simples
palavra a palavra dita
a tua voz é a floresta galeria
na terra vermelha do corpo.».
Mas quando a morte intervém - como mostram as formas verbais no passado, pretérito imperfeito -, o amor transforma-se e passa a ser memória em vez de corpo. A presença terrena passa encontrar lugar no coração da amante, através da memória e evocação da presença do amado, re-cor-dando ou tranformando o amor sublimado em compaixão por um ‘anjo caído’ (pg.18), rematerializado na presença de um amor outro, este como lenitivo, caído num colo em sangue (idem) de um coração em ferida:
«(...)
Tu eras o bicho cinzento
Do entrelaçado dos limos
O da multidão
O que deslizava na água
Como a sombra.
Agora, alguns anos depois
Um anjo caído
Encontra ninho
No colo em sangue do meu peito.».
A vida prossegue, contudo, no lento desenrolar dos dias e atravessa, tal como a luz, as frestas dos muros que se vão erguendo nas divisões de fronteiras e decorrentes das guerras. Todavia, a vida e o amor, através do verbo, perseveram, insubmissos, o seu curso como os rios que vão erodindo a pedra (pg 19):
« (...) há velhas mulheres pousadas sobre a tarde
enquanto a palavra
salta o muro e volta com um sorriso tímido de dentes e sol.».
No poema “De onde eu venho” (pp. 20-22), fala-se da paixão que leveda com o tempo, tal como o pão, que depois se transforma na fogueira que é o coração da casa. E, aqui, vem-me à ideia o mesmo paralelismo, do fogo de Vesta, a deusa dos Romanos que velava pelo lar e pelos antepassados. O fogo, o forno do pão, a fogueira e o fogo do útero são o mesmo lugar onde fermenta o pão que alimenta a humanidade e os novos seres que perpetuam a espécie que assim leveda e se expande também. Este lugar pode não ser necessariamente uma casa; pode ser uma árvore na floresta, um oásis no deserto, uma ínsula no meio de um rio, ou uma duna que esvai de um dia para o outro com o vento. É todo o lugar onde a humanidade fermenta, leveda e se expande. Um lugar, físico ou imaginário, sedentário ou nómada, para onde confluem todos os elementos. Ali à fogueira, junta-se o vento e a chuva a agir sobre os solos para que a vida se renove. Também a água, que vai pingando como os dias, dos tectos, das folhas das árvores e, de mão dada com o tempo, vai erodindo as pedras das casas, assoreando terrenos, desgastando corpos, fazendo as vidas, continuamente seguir o seu curso. Vidas que após o seu término permanecem na memória colectiva, como os rios que correm para oseu destino final: o Atlântico (pp. 21-22).
« (...) De onde eu venho empresta-se o corpo à casa
a memória ao tecto onde pinga a chuva
como se fosse agora como se fosse sempre
depois estendem-se os cogumelos
e olham-se as flores onde o desejo passeia
devagar.
São bem-vindas as chegadas
há portos e cais por todo o lado
e, na falta, braços fortes que nos carregam ao vento
pode-se ficar
lento como redes
nas dunas.
(...)
De onde eu venho podemos esquecer os dias
e andar pela relva a beber as vozes. Uma mulher
partiu de nós
e deixou o canto para nos adormecer a alma. Seu
nome era Nina e a sua vida terminou a sopro
hoje de manhã
conheço as suas crianças e sei de que se alimentam.
De onde eu venho nascem os rios
nos nervos da terra
correm certos para o mar ou
perdem-se nos lugares do tempo
sem que ninguém
os detenha
aí lavam as raparigas os seus primeiros sangues
constrói-se um sol de mentira para pendurar
de noite
na porta da vida.
Venho de muitos rios e um só mar
o Atlântico
suas cores secretas
a música erudita da praia
a espuma lenta das redes
de onde eu venho há lá e cá
luz, risos de gargantas feridas
almas abertas
uma ciência antiga de treinar
os olhos para as fibras
depois as águas
logo a seguir as tintas
e nadar sobre a terra
com passos de silêncio
para que nada perturbe aos olhos
a luz.».
No entanto, não existe, na poética de Ana Paula Tavares apenas mulheres guardiãs do fogo do lar, como a romana deusa Vesta. Há mulheres cuja chama se apaga rapidamente, como Nina, no poema acabado de citar. E há, também as sacerdotisas e pitonisas como Adélia (pg. 23) que lêem os destinos aos humanos e os presságios nas forças da natureza:
«Adélia segura a minha mão
Dentro do templo
Move com força os lábios
Diz:
Nós, as concebidas no pecado
Fechadas de vidros
No altar do mundo
Adélia lê as estelas
As escritas da areia
Lava com cuidado
As feridas
Diz:
Os sonhos são desertos
Com navios encalhados.».
E, claro, há as ‘outras’. Aas vagueantes do amor nómada (pp. 24-25), como a voz narrativa/sujeito poético, que se desdobra no seu duplo - o Eu e a Outra, a ‘louca’, ‘o demónio’, por oposição à ‘santa’ de cujo fogo, hoje extinto, só restam as cinzas. Há “coisas que só se confessam diante de um pau e nunca diante de gente”, como o adágio nyaneka que serve de epígrafe a este poema em particular:
«Das duas de mim só percebeste
A louca
A voz de íntima nudez
O grito surdo da fêmea.
Das duas de mim
Só percebeste a outra
A dos cabelos soltos
Cabaças no ventre
E um demónio
Nos cabelos
Das duas de mim
só percebeste a sombra
A embriaguez do vinho
O brilho da palavra
O sonho
Agora que um mapa estranho
Traçou na face os caminhos da santa
O sonho apareceu despido
Ainda voltas
De vez em quando
Com as palavras da louca.».
Se, no poema anterior, o fogo religava o acto de alimentar e cuidar da família, integrando simultaneamenta o fogo do desejo físico - sublimando também o sexo como essencial para a união dos seres consagração do renovar das gerações bem como da manutenção e expansão dos povos -, neste poema está também presente fogo como símbolo da actividade do espírito. O fogo do verbo assegura a coesão das almas, mesmo quando ameaçadas pela morte - metaforizada na presença dos cogumelos, agentes decompositores. O contraste surge com a vitalidade do desejo, transmutada nas flores, órgãos reprodutivos do mundo vegetal. Vida e morte a digladiam-se no poema, um dos mais belos deste livro onde, da mesma forma, se defrontam os dois arquétipos de mulher que é simultaneamente una e dupla: ‘a louca’, devotada ao prazer, e a santa, devotada aos outros, à família e à comunidade. A serenidade inscrita na voz poética, integra ambas as imagens do Eu feminino, fundindo-as numa só persona.
O desamor, ou talvez a morte está, por sua vez, inscrita em todo o poema que se segue (pg, 26), na voz que sucumbe, assinalada pelo declinar do volume no último verso que, em contraste com os anteriores, inicia com letra minúscula:
«Esta manhã dói-me mais do que é costume
A pele
As escarificações
As cicatrizes
Doeu-me a noite de laços e espuma
Dói-me agora a pele
As escarificações as cicatrizes
Dói-me o teu corpo deitado
O silêncio
Os gritos em feixe
dentro de mim.»
No poema que se segue “Otyoto” a mulher-mãe que surge como alimento e esquecimento de si patente na supressão do desejo, como se vê nos versos que se seguem (pg. 27)
«Todas as mães da casa redonda disseram
(...)
Cuida do corpo da casa e das tranças
Desfaz-te em leite
Para a fome das crianças
Ninguém falou de dor
Abandono solidão
A loucura é palavra interdita
Ficam os sonhos a voar
Pássaros na boca do vento.».
O poema seguinte, dedicado a alguém chamado de ‘Ivone’ (pg.28) sugere uma violação, ou um qualquer outro acto de violência, onde o homem é metaforizado na figura do escorpião azul - e o azul assume aqui a significação da morte, do veneno, cyanido, que deixa o coração gelado.
«Frio frio frio
Frio como a água do rio
Procuro
O escorpião azul
Que me comeu as entranhas.
O homem que saltou da janela
Deixou sementes no choco
E o coração frio frio frio
Frio como a pedra
No rio.».
O poema seguinte completa a sequência narrativa (pg. 29-32) trazendo a cura personificada num conjunto de rituais, sortilégios e encantamentos com a finalidade de afastar a “febre” que corrói o corpo e a alma:
«Debaixo da árvore da febre
(...)
Preparada para o tempo
caminhei sobre as marcas de sangue
deitei-me
debaixo da árvore da febre
Perdi a máscara Pwo
as pulseiras de protecção
os óleos do início
os frascos dos remédios
Perdi as palavras
as dos poemas
e do silêncio
(...) vi a minha pele velha
rasgar-se ao sol
debaixo da árvore da febre
Vi o meu pano de nascimento desfazer-se
debaixo da árvore da febre
Como uma velha leoa
fiquei só
debaixo da árvore da febre
sem os óleos de protecção
as palavras
o silêncio
os cantos a atravessar desertos e medos
Fiquei só
debaixo da árvore da febre
(...)
Debaixo da árvore da febre
eu não disse nada
Debaixo da árvore da febre
ardo devagarinho
sem as palavras
o silêncio
os óleos de protecção
os cantos de atravessar desertos
o fogo sagrado dos antepassados.
Viram a minha máscara Pwo?».
Novamente é retomada a fala do sujeito poético, que incorpora a da jovem violada. E é pelo olhar desta que entra a personagem da sacerdotisa, agente de cura da mulher de alma destruída. Que perdeu as ferramentas e utensílios que lhe serviam de defesa espiritual contra o Mal.
Logo depois, no poema seguinte, entra a fala do velho ancião, à laia de epílogo de uma história triste, um incêndio maléfico de cuja passagem só restam cinzas calcinadas. De onde a harmonia possível renasce lentamente após o afastamento da ameaça. A presença da ‘hiena’ remete para a ideia do saque aos sonhos e à esperança, mesmo após o seu afastamento “enchendo o deserto de gritos” (pg.33). A morte, simbolizada pelo pássaro (abutre?) que que sobrevoa três vezes, em círculos o corpo feminino destroçado, segue o seu caminho e afasta-se, tal como a hiena (pp. 33-34):
«A hiena seguiu o seu caminho
Enchendo o deserto de gritos
Do meu corpo saía o sangue dos princípios
Noites de efiko ritual de iniciação
A hiena seguiu o seu caminho
Enchendo o deserto de gritos
O pássaro grande voou três vezes
Sobre mim
Três vezes voou e seguiu o seu caminho
A minha morte pequena ficou ali feita deserto
Enquanto a hiena
Seguia o seu caminho
Enchendo o deserto de gritos.».
A fala do ancião deixado moribundo pela “hiena” depois de ter feito mais estragos na aldeia (o cabrito, a jovem...) coexiste em simultâneo com a da ‘velha’ no último poema em que esta fala da perda irrevogável da inocência. É uma voz despojada de tudo, excepto da memória, onde se perdeu a felicidade dos dias tranquilos onde reinava a alegria e a pureza do coração, a inocência, simbolizada pelo nenúfar (pg. 35):
«Navego uma solidão de búzios
No mar verde de canela e açafrão
A noite é mais fechada
No ar de prata e pólen
Que respiro
Meu coração é um lago
Por onde deslizou a vida
Sem flores
Sem nenúfares.».
Há depois todo um trabalho de reconstituição e reconstrução da alma que nunca conseguirá fazer sozinha. Terá de ser um trabalho a quatro mãos para reunir os “ossos do tempo” (pg. 36)
«Então perto do limite, ele cumpriu a promessa
(...)
Ali debaixo da terra quente e negra».
No último poema (pg. 37), é atingido finalmente o bem supremo, o conhecimento de si e do mundo:
«No deserto vi as estrelas
Do caminho do meio
(...)
Com os poemas inscritos
(...)
No deserto vi as estrelas
A tempestade
A solidão por dentro
Olhei de novo o escravo
Sentei-me a olhar o fim
Encontrei o segredo
fechei devagarinho as portas».
O ‘segredo’ do fluir da vida no espaço e no tempo é a principal riqueza a transmitir, pela voz do sujeito poético às gerações vindouras.
Ana Paula Tavares conquistou, com este livro, o Prémio Nacional de Cultura e Artes de Angola, em 2007. Absolutamente merecido.
VNF, 07.03.2025
Cláudia de Sousa Dias
PS: Outra excelente análise sobre este texto é a de Teresa Sá-Couto, neste blogue: https://orgialiteraria.wordpress.com/2009/01/30/a-poesia-de-paula-tavares/