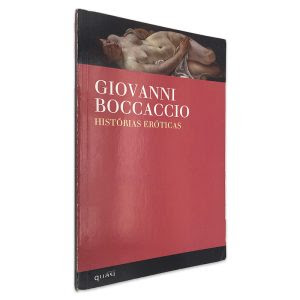‘Histórias Eróticas’ de Giovanni Bocaccio (Edições Quasi)
Este pequeno livrinho da já extinta editora famalicense dá-nos apenas uma pequenina amostra do livro original, Decameron, muito mais extenso e detalhado, mas serve perfeitamente como “aperitivo” para a obra de um escritor que escreveu, se calhar, um dos primeiros romances da literatura ocidental, tal como hoje é concebido esse género literário. Uma narrativa longa, composta por uma pluricidade de vozes, correspondendo, cada uma delas a um capítulo que encerra em si, uma história específica, mas todas elas com um denominador comum: servir de entretenimento a um grupo de indivíduos confinados durante o período de isolamento face ao flagelo que foi a Peste Negra na Europa.
Giovanni Boccaccio nasceu em Paris em 1313 e faleceu em Certaldo, em 1375. É um autor humanista-renascentista que revolucionou a literatura do século XIV. As histórias aqui representadas foram retiradas do volume Decameron (do grego ‘Dez Dias’), período que corresponde à duração do confinamento decretado face a um surto de peste negra [yersinia pestis] durante a qual dez jovens narram, cada qual à sua vez, estas histórias. Boccaccio é, assim, um dos primeiros autores a recorrer à heteronímia para contar estas narrativas. Cria, assim, dez personagens que são, elas próprias, autoras ou recolectoras de experiências, transformadas em contos/estórias. Este, mais do que eróticos, poder-se-ão antes classificar de ‘amorais’ e que os editores afirmam serem ‘desenhados com realismo’. São contudo, na verdade, novelas satíricas, na sua maior parte, ao transportarem-nos para uma sociedade medieval que é ridicularizada. Nestas estórias impera “o humor, a fantasia, a volúpia e a malícia”. A tradução portuguesa foi levada a cabo por Urbano Tavares Rodrigues. A seu tempo, será feito neste blogue o comentário à edição inglesa (integral) e italiana (original), enquanto não conseguir aceder a uma edição integral em língua portuguesa, idealmente uma edição crítica e bilingue, para que possamos aceder simultaneamente ao discurso original.
O humor inscrito nestas estórias perde um pouco da sua força com a tradução para o português: a percepção dos jogos linguísticos da língua de partida, aqui, esbate-se um pouco. Essa perda é, contudo, minimizada pela maior facilidade na correspondência linguística entre a língua de partida (o italiano medieval) e a língua de chegada (o português contemporâneo).
As doze estórias aqui contidas sabem realmente a pouco, podendo perfeitamente serem lidas em voz alta, diante de uma lareira, numa reunião familiar. O aspecto cómico-burlesco apresenta-se destituído de qualquer tipo de descrição gráfica ou linguagem obscena. O título escolhido para esta edição serviu pois o propósito de captação de um segmento do mercado exercendo a função de ‘isco’ aos leitores que não estivessem propriamente familiarizados com o autor e para os quais o título original se apresentaria algo hermético ou, no mínimo, estranho.
Passemos, pois, às histórias ou novelas propriamente ditas:
1. “O Jardineiro do Convento” - «Masetto da Lamporecchio finge que é mudo e torna-se jardineiro num convento de freiras. Todas elas fazem por dormir com ele». Esta primeira estória assemelha-se, de certa forma, a uma das rábulas de Gil Vicente ou a uma opera buffa na qual «Masetto da Lamporecchio ao fingir-se de mudo, torna mais fácil a sua inserção num convento de freiras, já que fornecer uma oportunidade de trabalho a um jovem com uma limitação física consituiria um acto de caridade conforme ao espírito daquela instituição. No entanto esta acaba por ser a história de um jovem que se mostra muito entusiasmado em “jardinar” as “flores” humanas daquele lugar, normalmente interdito a homens - falantes, sobretudo. Dedica-se a exercer com primor a “arte” e confirmando-se, mais uma vez, o velho adágio de que “quem desdenha quer comprar”, onde as acções do jovem dementem o diálogo inicial com o colega jardineiro, a caminho de se reformar. No final, o outrora jovem - agora já bem entrado nos anos [e não só] é largamente recompensado pelos serviços prestados.
2. “Penitência e Paraíso” - «Dom Felice ensina ao irmão, Puccio, a maneira de atingir a felicidade, fazendo a penitência que lhe indica. O irmão Puccio assim faz e Dom Felice aproveita para passar algumas horas agradáveis com a mulher dele».
Nesta estória, o autor decide dar um soco no estômago à soberba moral, que se manifesta normalmente na pretensão humana em atingir a perfeição espiritual daqueles que, não raro, negligenciam as reais necessidades do corpo (eros) e da alma (psyche), as dua grandes dimensões da vida humana que estão intimamente ligadas através das emoções que resultam do conforto proveniente do amor e entendimento mútuos. A crítica aqui é sobretudo dirigida a uma sociedade comandada por aquilo que Sigmund Freud chamaria mais tarde de super-ego, o qual, representado pela figura de Puccio, oblitera a quase totalidade do eu, como se as pessoas conseguissem apenas viver de orações e penitências, sem afectos nem carícias.
3. “O Manjerico” - «Os irmãos de Isabetta matam o amante da irmã. A infeliz vê-o em sonhos e fica a saber o local onde está sepultado. Desenterra, então, em segredo, e cabeça e esconde-a num vaso de manjerico. Todos os dias, durante uma longa hora, derrama lágrimas nesse vaso. Os irmãos tiram-lhe e ela morre de dor pouco depois».
Nesta história estão presentes muitos elementos do universo gótico e macabro, adquirindo a prosa um tom que raia o tom melodramático. A ‘troika’ ou tríade composta pelos irmãos que, friamente, planeiam e executam um crime, ocultando o cadáver, é motivada por questões financeiras primárias: não ter de dar o dote à irmã para que esta pudesse casar, tendo em conta o facto de o potencial noivo não ser um partido financeiramente interessante para a família. A estória em si expõe a natureza das relações familiares e das motivações que levam às alianças matrimoniais na Época Medieval: era então muito comum nas estruturas familiares patriarcais, sobretudo nos estratos sociais mais abastados, ser dado muito pouco valor à vida humana. Trata-se de uma estrutura social assente numa cultura onde não eram favorecidas relações sociais ou amorosas com pretensões matrimoniais, que não incluíssem interesses económicos ou financeiros. O mesmo não se aplicava a relações extra-conjugais ou clandestinas.
Os irmãos acabam por sair de Messina, face ao risco de virem a ser descobertos e migram para o reino vizinho, onde permanecerão incógnitos e os seu passado mergulhado nas sombras das ruas de Nápoles.
4. "O Canto do Rouxinol" - «Ricciardo Manardi é apanhado em flagrante delito com a amante pelo pai desta, Lizzio da Valbona. Ricciardo casa com a jovem e fica em paz com o sogro».
Esta é uma das minhas histórias preferidas em toda a antologia. Não pelo final feliz, tipicamente delicodoce dos contos de fadas, mas pelo humor e estoicismo do Senhor de Valbona. Trata-se de uma história romântica onde a beleza da jovem e a fortuna do pai se combinam às mil maravilhas para fazer o jovem mancebo cair irremediavelmente apaixonado. Mas o que realmente me diverte é a cumplicidade dos jovens amantes, recorrendo, uma e outra vez, aos mais mirabolantes estratagemas para se encontrarem, iludindo a vigilância dos pais da rapariga. A acção passa-se na Romanha (Romania) e mais parece uma versão cómica da peça Romeu e Julieta de William Shakespeare, mas com final feliz. Agrada-me particularmente a invulgar resignação e pragmatismo deste Pai, medieval mas cavalheiro, e cheio de bonomia para com as traquinices amorosas do casal.
5. “O Falcão” - «Federigo degli Alberighi ama e não é amado. A fim de mostrar o seu fausto, gasta todos os seus haveres. Só lhe resta um falcão. Não tendo mais nada de seu, dá-o a comer à sua dama, que o visitou. Ao ter conhecimento disso ela muda de parecer, toma-o por marido e enriquece-o».
Trata-se de uma estória romântica que, mais uma vez, não tem nada de erótico e, ao contrário da anterior, nem sequer de maliciosamente humorística. Este é antes um caso típico em que o romance se une ao pragmatismo numa união matrimonial. Na verdade, o protagonista havia sido um muito bem sucedido ‘playboy’ da era medieval, que tendo delapidado todos os seus bens, decide jogar a última cartada com uma pretendente abastada, a quem tentava, a todo o custo e já há algum tempo, impressionar, sem sucesso. A jovem viúva comove-se tomando a última tentativa desesperada do mancebo em apropriar-se de uma nova fortuna, mascarada de despojamento, por amor sincero. Para mais, a criança que seria herdeira dos bens tutotiados mãe no anterior casamento morre depois em circunstâncias trágicas, tornando-a ainda mais rica (e desposável). O seu encanto cresce em proporção directa do valor da conta bancária e das propriedades herdadas. Na verdade, só o acto de pensar em gerir (e gastar) a fortuna da esposa é já afrodisíaco o suficiente para lhe conseguir uma erecção.
6. “De Qualquer Maneira” - «O marido de Petronella regressa a casa e ela esconde o amante num tonel. Ora, o marido acabara de o vender, mas ela assegura, por sua vez, tê-lo vendido a um homem que está precisamente dentro dele, a ver se está em bom estado. O indivíduo sai então do seu esconderijo, faz com que o marido raspe o tonel e acaba por levá-lo consigo».
Nesta estória, o pragmatismo é, mais uma vez, o aspecto que mais se destaca. Apenas desta vez assume as roupagens da farsa e não do melo-dramatismo da novela anterior. A rábula beneficia do carácter ingénuo do marido enganado, tal como acontece em algumas outras já aqui mencionadas, bem como da esperteza e sagacidade da mulher cuja agilidade de raciocínio a faz sair de uma situação complicada e, ao mesmo tempo, realizar um negócio ainda mais lucrativo do que aquele que havia realizado o cônjuge, graças à bolsa avultada o amante. O marido acaba por ser colocado, sem sequer suspeitar, no papel de proxeneta involuntário. O amante, que não tem outro remédio senão pagar o preço inflaccionado por um tonel que nunca pensou adquirir, tem de anuir sem protesto. Os dois homens têm neste noveletta um papel essencialmente passivo, estando o desenvolvimento da acção totalmente a cargo da protagonista feminina.
7. “As Impressões do Além” - «Dois homens de Sienna amam a comadre de um deles. Este último [o compadre] morre para cumprir a palavra dada, volta junto do amigo a fim de lhe contar as suas impressões do Além».
Trata-se, mais uma vez de uma sátira que daria um excelente argumento para servir de base a uma opera buffa. Os dois protagonistas masculinos são dois homens de origem modesta, ambos praticantes de hábitos religiosos regulares, perfeitamente enraizados no quotidiano, mas a intensidade da fé de cada um e a qualidade de afecto demonstrado diferencia-os de forma abissal. O tipo de adoração de ambos pela mesma fidalga rica e casada, marca o curso de vida de cada um de forma radicalmente oposta: um dedica-lhe uma afeição respeitosamente platónica e cortês, o outro decide aproveitar-se da ingenuidade do amigo e das vantagens e proximidade proporcionadas pelo compadrio, para fazer avanços concretos e muito físicos. Mas tanto para um quanto para outro, na questão dos jogos amorosos, só existe uma regra. A de que não existem regras. Um beneficia da oportunidades dadas pela proximidade da situação social, dos laços familiares e afinidades, pelo facto de frequentar a casa da dita senhora. O outro aproveita-se da ingenuidade e do carácter pio do amigo, para criar uma oportunidade.
Estando já a meio do livro é possível verificar que a sátira boccacciana é, na maior parte das vezes, dirigida à voracidade sexual de ambos os sexos - daqui vem, em parte a escolha do título para esta antologia - e, sobretudo, à manha atribuída às mulheres, cujos ardis presentes em figuras femininas independentemente do seu estado civil, as leva quase sempre a levar a melhor face ao sexo masculino. Neste caso, a intensidade do ardor sexual da amante de Tingoccio extingue-lhe de tal forma as energias que este acaba morto, exaurido de tanta actividade. Este regressa, no entanto, três dias depois, qual Cristo ressuscitado, aparecendo a Meuccio, o amigo, conforme o prometido, para lhe descrever a passagem ao outro mundo. Pela descrição, Tingoccio terá sido condenado ao purgatório, mas tenta fazer com que Meuccio, que terá pecado apenas em pensamento, seja condenado a pena idêntica para ter companhia no Além.
8. “Ligações Perigosas” - «Esta é a estória de dois amigos, ambos casados. Um deles era amante da mulher do outro. Este descobre tudo. Com a cumplicidade da esposa infiel, fecha o amigo numa arca e deita-se em cima dela com a mulher da vítima [aqui não se percebe muito bem qual é a vítima de que fala]».
Este é, praticamente um caso de ‘swing’, num exemplo levado ao extremo da flexibilidade das regras sociais da moral vigente e que visam preservar laços de amizade. Ou de uma vingançazinha com laivos de sadismo paroquial.
9. “Há males que vêm por bem” - «Vítima de um roubo, Rinaldo d’Asti chega a Castel Guiglielmo onde se hospeda em casa de uma viúva. É indemnizado em todas as suas perdas e regressa a casa são e salvo».
A estória desenrola-se no cenário piemontês, em Bolonha, mais propriamente na estrada entre Ferrara e Verona, ilustrando os perigos com que então se defrontavam os viajantes. Sobretudo se transportassem dinheiro ou valores e mercadorias caras. As ciladas com que se deparavam eram complexas e refinadíssimas na sua subtileza, para quem não tivesse os olhos treinados e não viesse prevenido com numerosa escolta armada.
Ao protagonista desta estória salva-o a generosa - e amorosa - hospitalidade de uma viúva, conhecida amante de um senhor local. Destaque-se desta vez a punição exemplar, sofrida pelos salteadores, que é demonstrativa do medo que estes provocaram não apenas nas populações mas sobretudo nas classes mais abastadas.
10. “O Companheiro de Viagem” - «Três jovens dissipam toda a sua fortuna e ficam reduzidos à miséria. Um sobrinho deles, ao voltar desesperado para casa encontra um abade. Este, na realidade, era a filha do rei de Inglaterra. A princesa casa com ele, restaura a fortuna dos tios e dá-lhes uma brilhante situação».
Esta é uma das poucas histórias desta antologia onde a figura da mulher não é exactamente retratada como uma personagem dissoluta ou perita em ardis, ou dotada de maleáveis princípios morais. Neste caso, é a família do protagonista que toma para si estas características, adoptando um comportamento financeiramente imprudente e perdulário. O protagonista, por seu lado, mostra-se um competente gestor financeiro, com hábitos de poupança e gastos comedidos. E, no final, o jovem é recompensado tanto pela beleza física como pelo carácter, adquirindo inclusivamente um título nobiliárquico do mais alto valor: o de Príncipe Consorte. A jovem princesa, por sua vez, é uma mulher muito segura de si e das suas escolhas, além de excelente analista de carácter. A atitude que tem com o futuro marido ainda antes de se casarem mostra não apenas um nível de autoconfiança invulgar para a época, mas mais do que isso: a certeza de se saber acima do controlo social do resto do membros da comunidade. Ela controla e decide sobre todos os aspectos da sua vida, inclusive a sexualidade, ao escolher o marido que lhe agrada e não aquele que a família lhe quer impor.
11. “Os Perigos de Nápoles” - Tendo ido a Nápoles comprar cavalos Andreuccio de Peruggia sofre, numa só noite, três acidentes graves. Escapa de todos eles e regressa a casa na posse de um rubi».
Esta estória é a mais longa da antologia, sendo por isso aquela que melhor encaixa formalmente na categoria de novela - conto longo, onde as personagens são sobretudo planas. Nela, os viajantes ricos demonstram terem, em terra estranha e onde a criminalidade é alta, algumas atitudes imprudentes como a falta de discrição quanto ao facto de transportarem muito dinheiro consigo. Novamente aparece uma figura feminina, de comportamento dissimulado e moralidade dissoluta, a usar o poder de sedução a fim de criar uma armadilha para hóspedes incautos e extorqui-los com a ajuda de uma rede de cúmplices. Esta rede é na realidade uma quadrilha organizada e a dama de grande beleza o isco que serve para atrair as presas de bolsos (e baús, alforges ou carruagens) recheados.
Inclusive “Nápoles não era uma cidade onde as pessoas pudessem circular de noite, sobretudo quando se era estrangeiro”. Estes grupos organizados seriam, provavelmente (?), os antepassados da famílias que deram depois origem, séculos depois, à temível organização da Camorra, por se acharem sempre acima ou fora da lei e contra o Estado.
Por fim, Andreuccio consegue fintar os criminosos usando um ardil e servindo-se de uma pedra preciosa como isco. Como prémio de consolação, consegue um esplendoroso anel com a referida pedra ao invés dos cavalos que pretendia negociar.
12. “A Adolescente e o Eremita” - Alibech torna-se eremita. O monge Rústico ensina-a a meter o diabo no Inferno. Alibech afasta-se de Rústico e casa com Nurbale».
O cenário desta estória será, desta vez, no Próximo Oriente - entre o antigo reino da Babilónia, actual Iraque, e o Egipto “nas solidões do deserto da Tebaida” (pg.89). A protagonista é uma jovem ingénua, oriunda de uma família abastada que decide fazer uma peregrinação e isolar-se num retiro espiritual/religioso. Mas nem todos os guias espirituais são iguais. Alguns são mais espirituais do que outros. Na trama estão também presentes vários estereótipos sociais dentro da hierarquia da Igreja: ali há os que praticam a virtude e colocam a ética acima dos próprios desejos egoístas - e até do Desejo em si mesmo - e do prazer; mas há também os que não querem saber de ética para nada, usando a capa da religião para gozar dos privilégios que a posição social atribuída pela Igreja lhes confere, como é o caso do Abade Rústico. Esta é uma das personagens mais vis de toda a antologia e que, tal como acontece em alguns actos de Gil Vicente, incarna alguns do maiores vícios dentro da classe, ocultos sob um conspurcadíssimo manto de respeitabilidade. Rústico. debaixo da capa de clérigo, é um sátiro que só obedece ao impulso da luxúria. O único ‘treino espiritual’ em que realmente se empenha em “treinar” a inocente Alibech é o de lhe acordar a sexualidade. Esta, quando se cansa de ser apenas um objecto nas mãos de Rústico decide abandoná-lo e casa com alguém que deseja mais do que o seu corpo jovem ou o seu recém-despertado erotismo. A estória apresenta um final que se supõe ser feliz, sempre contado com o humor malicioso (ou sarcástico?) dos confinados heterónimos do autor, Boccaccio. Daqui depreende-se que a personalidade enganosa de Rústico desempenha um papel fundamental, assentando na criação de um contraste com a personagem Alibech. Apesar tudo, pode-se considerar que o final seja aberto - mesmo com a sugestão de que se trata de um final feliz. Alibech enriquece, face a uma tragédia familiar e torna-se objecto de cobiça, particularmente por jovens caídos em desgraça que procuram uma forma fácil de resgatar uma fortuna perdida ou de ascender socialmente. Este parece ser o caso de Nurbale, o noivo, independentemente da idoneidade do seu carácter (que não é referida do texto). Não se sabe, na verdade, se a jovem foi ou não feliz no casamento (tal como na maior parte do conto de fadas tradicionais nas versões mais antigas), mas na retórica de Boccaccio, a voz doxal da comunidade dá a entender até que ponto a jovem era inocente. A conduta de Alibech é observada e comentada publicamente, mesmo sem ser julgada em termos farisaicos. Ainda assim, tornar-se-à objecto de escárnio ou chacota em conversas de taberna pela mesma comunidade que terá tanto de hipocrisia como de corruptibilidade nos mais íntimos recessos da vida privada.
Cláudia de Sousa Dias
Vila Nova de Famalicão, 25 de Maio de 2025